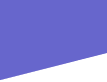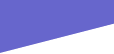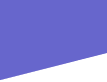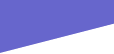|
|
 |  |
|

Falar de Santa Eugénia, é deixarmo-nos envolver por um certo transe, deslizando a tinta ao sabor daquilo que nos ocorre no pensamento, é sentirmo-nos num espaço tão ínfimo, mas tão grande, tão nobre, que todas as palavras que se possam utilizar, é apenas um pouco daquilo que sentimos desta maravilhosa terra.

Freguesia com profundas raízes históricas, materializadas no belíssimo património cultural e na memória colectiva das suas gentes.
São múltiplas as potencialidade turísticas: a beleza natural das suas serras, as aprazíveis paisagens, o rio «Tinhela», a gastronomia e o património arqueológico, construído, etnográfico e artístico, constituem a identidade natural e cultural desta belíssima aldeia.
Orgulhamo-nos pois de expor e tornar acessível a todos, através desta nova forma de comunicar, os traços gerais que caracterizam esta terra «Transmontana». Quem nos visita pela primeira vez, dificilmente escapa ao desejo de visitar novamente este lugar deslumbrante.
Autor: José Nogueira dos Reis

Historial de Santa Eugénia:
1- Historial : Santa Eugénia, situa-se a cerca de 15km. De uma das saídas da I.P.4-Pópulo.
Tem a Área Aproximada de: 779 ha
AS Freguesias Limítrofes São: A Norte Pegarinhos; A Sul Carlão; A Este Candedo(esta do concelho de Mura); A Oeste Casas da Serra (lugar da freguesia de Carlão)
Orago: Santa Eugénia
1.2- Topónimo:Eugénia, de origem grega, significa Bem Vinda, Bem Aparecida, de Boa Linhagem
Os Primeiros Povos remontam ao período Megalitico;Comprova-o o facto de nas redondezas existirem ainda Pinturas Rupestres, Dolmens e Antas, aqui segundo se conta uma pintura Rupestre foi destruída aquando da busca de Volframio.Prova-o também o seu culto de origem sueva.Da época Romana existe, em pleno estado de conservação, uma «Fonte de Mergulho».
«Lage do Concelho» - Lage do Concelho
Concelho - substantivo masculino.
Significa : Circunscrição administrativa;
Subdivisão de distrito;
Município.
Latim conciliu.
Significa Assembleia.
É precisamente da acepção Latina, que esta «Lage do Concelho», herdou o nome. Era o local onde os «vizinhos»(antigo nome dado aos habitantes), se reuniam em assembleia, quer para eleger os seus dignos representantes junto de entidades hierarquicamente superiores(exemplo: Nos órgãos concelhios), quer para resolver problemas respeitantes a si próprios e/ou à localidade. Servia também de «Tribunal Moral», isto é:
Ali eram publicamente denunciados os maus actos e seus praticantes. O malfeitor, ou se emendava, ou era simplesmente arredado do mais simples convívio com os vizinhos.
Por sorte do destino, tinha esta «Lage do Concelho» uma outra função. Era precisamente o local de marcação limite, da altitude máxima permitida pelo Marquês de Pombal, para autorização de «benefício».
Esta mesma «Lage do Concelho», situa-se precisamente no inicio? Da rua Marquês de Pombal. Coincidência ou propósito desta estranha relação, entre a «Lage do Concelho»(+-500m de altitude) e a rua «Marquês» de Pombal, com toda a modéstia, não o sei. Acho apenas uma coincidência demasiado coincidente.

Autor: José Nogueira dos Reis
Figuras Ilustres

pré-25/4/1974: José Cunha Cardos ( Delegado de Saúde de Benguela), Homem de elevada filantropia, contribuiu para prolongar a vida de muitos habitantes desta freguesia.
Manuel José Guerra Santos Melo

responsável por: Luz eléctrica; Água Pública;Casa do Povo;Reparação da Capela de Santa Barbara, Igreja Matriz, Cemitério, Escolas.Para além da água ser explorada numa sua propriedade, ainda hoje, quando existe escassez de água, a sua família põe uma torneira de água a correr para toda a povoação.
Pós 25/4/1974:
António Alves Martinho

Deputado na Assembleia da Repúbica;
Manuel Adérito Figueira

Vareador do Pelouro de Obras na Câmara Municipal de Alijó
Elias Martins Eiras

Presidente da Junta de Freguesia;
José Nogueira dos Reis


Figura de elevada filantropia, contribuiu fortemente para o desenvolvimento cultural das gentes desta freguesia desde os jovens, aos adultos homem de um só caracter, de um só ser, fosse qual fosse a fase da vida por que estivesse a passar. Foi fundador e co fundador de todas as associações culturais, de solidariedade, associativas, desportivas e/ou recreativas. Refundou o teatro, deu educação a adultos, foi promotor cultural, fundador ( nesta freguesia ) do partido socialista, tendo contudo, sempre presente o desenvolvimento, independência e afirmação destas gentes. Homem de uma simplicidade fora do comum, aparecia e desaparecia, quase sem se dar por ele!!. Pessoa sempre pronta a compartilhar o seu conhecimento, nunca se esquivou a dar uma boa e útil informação, a procurar ele próprio informar-se para informar. Fruto do seu avanço, quer para a época, quer em relação aos seus conterrâneos, trilhou caminhos amargos, que só a ele prejudicaram, mas, que lhe serviram de ensinamento para segurar a queda de outros. Julgo mesmo, que o seu maior inimigo, foi o seu avanço. Para se saber um pouco mais de este«SENHOR», VISITEN-SE OS SEUS SITES:
http://nogueirareis.tripod.com; http://nogueirareis.tripod.com/alijo; http://nogueirareis.tripod.com/santaeugenia; http://reis19.tripod.com; http://reis19.tripod.com/jnr; http://reis19.tripod.com/rnj; http://reis19.tripod.com/reis19; http://jose727.tripod.com; http://hipyreis.tripod.com; http://josereis.planetaclix.pt; http://josereis.planetaclix.pt/reis.
2- População:Habitantes-511
Residentes-HM-410-H-191,( com mais de 18 anos);
Eleitores inscritos : 480 ( compreendidos entre os n.º 3 e 711) ;
Famílias-191
Alojamentos-223
Edificios-215
No reinado de D.Sancho II, Santa Eugénia, fazia parte do concelho de Alijó;
Em 1258, nas Inquisições de D.Afonso III, Aparece no concelho de Murça.
Em 1269, D.Afonso III, ao confirmar o foral de seu irmão, dado a Alijó, ainda inclui de forma condicional, Santa Eugénia no concelho de Alijó.
A verdade é que no recenseamento de 1530, (reinado de D.João III), Aparece no concelho de Murça.Só regressou a Alijó com a reforma administrativa de 1853.
3-Desenvolvimento Económico: O Sector Primário, é o mais importante. Produção de vinho do porto, moscatel, consumo, champanhe e Azeite.Tem aprox.uma área de 600ha com autorização de beneficio; a industria de transformação de azeitona, também tem significado. A «Casa Agrícola», empresa agrícola, dedicada à produção, transformação e comercio, é a maior produtora de riqueza, oferta de mão de obra e desenvolvimento técnico. Pela sua capacidade de inovação, predisposição para a ciência, sucesso e novas práticas adaptadas ao tradicional, é um caso a ter em conta, um exemplo a seguir, e, julgo que deveria ser divulgada e apoiada pelas instituições com responsabilidades governamentais, apresentando-a como «modelo» de práticas a seguir;Estou convencido de que é com medidas assim, mostrando e aconselhando o que há de bom, que esta região se desenvolve. A «Casa Agrícola», está sediada no Largo da Fonte, com os telf.s: 259646174; 259648110; 259648111; 259646180. Cafés e mercearias, vêm imediatamente a seguir.
Esta Aldeia, caracteriza-se também pela Formação que sempre procurou dar aos seus filhos.
3.2- Acção Social: A)Centro Social, Rua da Veiga, Nº10-telf.259645261
B)Lar de Terceira idade - N /Existe
C)Casa do Povo - Extinta
D)Assistência Domiciliaria a cargo do Centro Social
3.3- Saúde: Centro de Saúde

rua da Veiga; telf.259645125
3.4-Ensino: Pré-Primária; Infantário; 1ºCiclo(Escola Primária)
Já houve Formação e Educação de Adultos.
4- Desenvolvimento e Turismo: Café Areias largo do Cruzeiro, Nº20; telf.259645035
Café Grande Ponto rua central nº1, telf.259646214
Turismo Rural: Quinta do Reconco; tef.259645311
4.1- Associações: Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Santa Eugénia
Actividades: Futebol de 11, 5, 7.
Damas, xadrez, cartas. Teatro, Festas e Bailes.
Restauração: Café Areias,Grande Ponto e Reconco.
4.4- Diversão: Grupo Desportivo,Cafés
Guia Turístico: Rio Tinhela;Cabeço de StªBarbara;Fonte de Mergulho; Lage do Concelho; Igreja Matriz;Capelas de: StªBarbara, Cemitério e Casa Santos Melo.Sede do Grupo Desportivo,Centro Dia, Casa da Família «Malheiro»( Brasonada), hoje pertença da Junta de Freguesia.
5- Tradições: Para além das lendas religiosas, referentes a StªEugénia e StªBarbara, Há a lenda de um local denominado Rapalobos;Diz-se que um jovem foi «devorado por 2 lobos»,quando vinha de namorar de Pegarinhos.A Mãe aflita, chamou por ele, ele distraíndo-se foi «morto».
5.2- Festas e Romarias: StªBarbaraPenúltimo Domingo de Agosto;StªEugénia11 de Setembro;Carnaval;S.João e S.Pedro.
Feira:N/Existem
5.4- Danças e Cantares: Janeiras, Reis,Carnaval,S.João e S,Pedro.
Trajes: N/Existe especifico
5.6- Jogos Tradicionais : Jogo do Fito, a chona, da malha e da macaca;
6 Gastronomia : Pratos da Região : Enchidos ;
6.1-Pratos Típicos: Enchidos e toda a Cozinha duriense.Bebidas durienses.
6.2-Tradição vinícola: Maduro;Porto; Moscatel; Jeropiga.
6.3- Doçaria Tradicional: Mulato,Teixeira,cavacas e amêndoas cobertas.
Local de Venda: Feiras e Romarias
7- Artesanato :
7.1- Cestaria(Mestre, senhor João Eiras); Tamancos ( Mestre, senhor José de Jesus Baptista) ; Material utilizado: Pau de Amieiro e Castanho.
7.2-Brinquedos Tradicionais: A «Carroça»
Este Trabalho, foi realizado por José Nogueira dos Reis, a pedido da Junta de Freguesia de Santa Eugénia
FILOSOFIA:
 Central de filosofia e cultura Central de filosofia e cultura |
| Epistemologia |
Filosofia |
Leitura |
Música |
|
A Epistemologia no Programa do Ministério
Pedro Galvão
Na proposta do Ministério da Educação para o programa de Filosofia do 10º e 11º anos, a Unidade IV -- o conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica -- vem ocupar o lugar da Subunidade V A -- a problemática do conhecimento -- do programa ainda em vigor. Os seus tópicos principais são os seguintes:
1. Descrição e interpretação da actividade cognoscitiva
2. O estatuto do conhecimento científico
3. Temas / problemas da cultura científico-tecnológica
Os dois primeiros tópicos são iguais aos da actual Subunidade V A. O terceiro, no entanto, vem substituir o tópico mais confuso dessa subunidade, dedicado ao tema «saber científico e reflexão filosófica». 1. A actividade cognoscitiva
Para o tema da «descrição e interpretação da actividade cognoscitiva», a proposta do Ministério apresenta dois pontos: (1) estrutura do acto de conhecer; (2) análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento.
Embora o primeiro ponto seja muito vago, todos sabemos em que matéria se vai traduzir na prática: lá vamos continuar com o sujeito a sair de si, a ficar fora de si e a regressar a si, mesmo que ninguém perceba ao certo o que isto quer dizer. Qualquer aluno perspicaz reconhece a total ausência de interesse cognitivo desta matéria que, no entanto, tem a vantagem de poder ser facilmente memorizada e reproduzida nos testes.
Quanto ao segundo ponto, ele é tão aberto que se torna vazio. Resume-se a isto: dê duas teorias epistemológicas e compare-as. É certo que no percurso de aprendizagens sugere-se uma abordagem a partir de «núcleos temáticos clássicos» ou «com base na relação entre conhecimento e linguagem», mas estas sugestões, para além de serem vagas, não passam disso mesmo e não eliminam a vacuidade do ponto (2).
Vale a pena confrontar a proposta do Ministério relativamente à «actividade cognoscitiva» com a Unidade de Epistemologia do programa do Centro para o Ensino da Filosofia. Nesta, após uma breve introdução, encontramos três problemas epistemológicos proeminentes na tradição Ocidental: o problema da definição de conhecimento, o problema do cepticismo em relação ao mundo exterior e o problema da justificação da indução. A proposta do Centro para o Ensino da Filosofia é aberta, pois não prescreve quaisquer teorias ou autores específicos, mas isso não a torna vazia, já que nela as questões filosóficas a abordar estão claramente identificadas. Uma aplicação possível da proposta do Centro para o Ensino da Filosofia seria a seguinte: para o problema da definição de conhecimento, leccionar a partir de algumas passagens do Teeteto; para problema do cepticismo, leccionar a partir de algumas passagens do Discurso do Método; para o problema da indução, leccionar a partir de algumas passagens da Investigação sobre o Entendimento Humano. Com este exemplo pretendo dissolver um mal-entendido importante: a ideia de que o programa do Centro para o Ensino da Filosofia é adverso à história da filosofia e à leitura dos textos clássicos. Isso não é verdade. As unidades de ética, filosofia política, filosofia da religião, epistemologia e metafísica podem ser integral e proveitosamente leccionadas a partir de textos de autores clássicos. A proposta do Centro para o Ensino da Filosofia é incompatível, isso sim, com a identificação da filosofia com a sua história, e com a consequente leitura acrítica dos textos dos autores do passado. 2. O conhecimento científico
Quanto ao tema do estatuto do conhecimento científico, a proposta do Ministério desenvolve-se em três pontos: (1) conhecimento vulgar e conhecimento científico; (2) ciência e construção -- validade e verificabilidade das hipóteses; (3) a racionalidade científica e a questão da objectividade.
O ponto (1) corresponde a parte do problema da demarcação: o problema de saber o que distingue o conhecimento científico de outros tipos de conhecimento (ou pseudo-conhecimento). O ponto (2) já é mais confuso. Para além de não ser claro que relação ocorre entre as duas expressões separadas pelo traço, não se percebe em que sentido se fala da validade de hipóteses. A validade é uma propriedade lógica de argumentos, não de hipóteses, que são proposições. Através do percurso de aprendizagens, percebe-se que aquilo que os autores da proposta têm em mente é a falsificabilidade e verificabilidade de hipóteses. Assim, fica claro que ao ponto (2) corresponde o problema da demarcação, mas nesse caso o ponto (1) é redundante.
O ponto (3) incide na questão importante da objectividade científica, colocada em causa pelas teorias relativistas. Esta questão surge também no final da Unidade de Filosofia da Ciência da proposta do Centro para o Ensino da Filosofia, embora aí esteja formulada em termos mais precisos. O formulação é a seguinte: o relativismo científico e o desenvolvimento da ciência incomensurabilidade e progresso científico. Este tópico é depois esclarecido na exposição analítica do programa: «Discute-se neste ponto o problema de saber se no desenvolvimento da ciência há um rumo determinado em direcção a um objectivo ou se, pelo contrário, a história da ciência não é mais que uma sucessão de teorias e maneiras de investigar incomensuráveis.» Todo o programa do Ministério ressente-se da ausência de esclarecimentos deste tipo; pouco mais nos dá para além das sugestões vagas apresentadas nos percursos de aprendizagens. Se compararmos essa unidade com aquilo que se propõe no programa do Ministério, aliás, verificaremos que toda ela é mais precisa. Mas esta não é a sua única vantagem.
A proposta do Centro para o Ensino da Filosofia prevê uma introdução de 5 horas destinada a comunicar aos alunos alguns «elementos fundamentais do desenvolvimento da ciência moderna». Nessas aulas introdutórias, o professor deverá proporcionar aos alunos alguns exemplos e pontos de referência firmes que propiciem a compreensão e discussão dos problemas de filosofia da ciência. Não há nada disto na proposta do Ministério, embora se saiba que uma grande parte dos alunos não sabe praticamente nada sobre as realizações de cientistas como Galileu, Newton ou Darwin.
Vale ainda a pena notar que, na sua exposição analítica, a proposta do Centro para o Ensino da Filosofia encoraja explicitamente os professores a recorrer aos conhecimentos de lógica dos alunos na abordagem aos problemas da filosofia da ciência. Afinal, para que serve ensinar lógica se depois, como é habitual, ela não for aplicada ao estudo dos problemas filosóficos? Para esclarecer a relação entre as teorias científicas e a observação, por exemplo, ou para explicitar a estrutura das explicações científicas, o recurso à lógica é extremamente proveitoso. Este facto é ignorado na proposta do Ministério, que, aliás, maltrata bastante a lógica. 3. Temas / problemas da cultura científico-tecnológica
Na proposta do Ministério o final da Unidade IV prevê o estudo de um tema / problema suscitado pela ciência ou pela tecnologia. Apresenta-se uma lista aberta de temas / problemas desse género. Alguns dos itens da lista são bastante infelizes: está longe de ser claro que temas como «o trabalho e as novas tecnologias» ou «impacto da sociedade da informação na vida quotidiana» tenham alguma relevância filosófica. As trivialidades sociológicas terão aqui mais uma boa oportunidade para florescer.
Outros temas, como «industrialização e impacto ambiental», têm seguramente interesse filosófico, mas situam-se no domínio da ética ou da filosofia política. Por isso, era preferível que surgissem no momento do programa dedicado a essas áreas da filosofia: numa unidade fundamentalmente epistemológica ficam desajustados. Conclusão
A Unidade IV da proposta do Ministério não traz nada de significativamente novo em relação à Subunidade V A do programa actual. O primeiro ponto é quase idêntico. O segundo ponto é mais vago e não apresenta qualquer referência explícita a temas como a natureza das explicações científicas ou o desenvolvimento da ciência. Sem uma abordagem a estes temas, os alunos nunca poderão compreender a actividade científica de uma forma minimamente satisfatória. Só o terceiro ponto pode constituir um avanço modesto em relação ao programa ainda em vigor, não pelo que traz de novo, mas por aquilo que elimina. Julgo que, com uma leitura atenta da proposta do Centro para o Ensino da Filosofia no que diz respeito à epistemologia e à filosofia da ciência, percebe-se por que razão é preciso mais que um avanço modesto.
Pedro Galvão
Crítica | Filosofia | Leitura | Música |
|
 |
 Central de filosofia e cultura Central de filosofia e cultura |
| Estética e Filosofia da Arte |
Filosofia |
Leitura |
Música |

O que é a arte?
Margaret P. Battin
1. Deram-se algumas tintas e papel à Betsy, uma chimpanzé do Jardim Zoológico de Baltimore, com os quais ela criou vários produtos alguns dos quais podem chamar-se pinturas. Ainda que os trabalhos de Betsy não sejam obras-primas, são inegavelmente interessantes e, à sua maneira, apelativos. Foram expostos no <Field Museum of Natural History> em Chicago algumas peças seleccionadas do trabalho de Betsy. Suponha que, no mês seguinte, aquelas mesmas peças são exibidas no Chicago Art Institute, e que nas duas exposições os trabalhos de Betsy foram muito admirados pelos visitantes.
É arte o trabalho de Betsy? Será só arte em certas condições de exposição (por exemplo, no museu de arte, mas não no museu de história natural)? Se é arte (pelo menos algumas vezes) de quem é?
Quando se procura decidir se uma peça é uma obra de arte, que tipo de considerações devemos ter presentes? Será importante que o criador seja humano? Será importante se o seu criador pretenda que seja recebida ou compreendida como arte? Será importante que o objecto em questão seja, segundo o nosso juízo ou o de outros, um objecto excelente do seu tipo? Será importante onde, quando e por quem seja visto, se o for por alguém? Se, por acaso, a Betsy criar uma composição que não se distinga de uma obra universalmente aceite como uma obra de arte, transformará isso o seu trabalho numa obra de arte? Que diferença fará se determinarmos que a composição de Betsy ou quaisquer outras coisas sejam obras de arte? Que alterações, se as houver, são necessárias no modo como tratamos e pensamos tais objectos quando fazemos esta determinação?
2. Em 1967, a <Galeria de arte de Ontário> pagou 10.000 dólares por um trabalho de Claes Oldenburg chamado O Hamburguer Gigante (1967): um hamburguer completo com pickles em cima, feito em tela de vela e preenchido com espuma de borracha, com cerca de 1,32 m de altura e 2,13 m de comprimento. Um grupo de estudantes de arte fabricou em cartão uma garrafa de Ketchup à mesma escala, e conseguiram pô-la ao lado do hamburger, o que fez as delícias da imprensa e aborreceu a direcção do museu. O hamburger continua na colecção do museu mas a garrafa nunca mais foi vista.
Este incidente aconteceu realmente. Como podemos avaliá-lo? Deve ser visto como um gesto de desrespeito a um artista eminente e a uma instituição digna, uma demonstração de falta de maneiras? Ou devemos olhá-lo unicamente como um comentário satírico da facilidade e superficialidade da arte "pop", a arte da altura (como a arte "pop" era um comentário à arte "séria" da altura)? Era uma graça sem importância, deixando as coisas como estavam, sem qualquer dano estético? Ou houve um dano estético ou outro, pelo facto ser embaraçoso? Não passou de um grande erro? Será que os estudantes não compreenderam o objectivo do trabalho de Oldenburg e por isso estabeleceram a relação entre a garrafa de cartão e o trabalho cómico de Oldenburg tornando-o esteticamente sem interesse? Mais precisamente, poderíamos dizer que os estudantes criaram uma nova obra de arte própria, incorporando nela o trabalho de Oldenburg como parte?
Margaret P. Battin
Trad. de Luís Nunes
Texto extraído de Margaret P. Battin, John Fisher, et al.: <Puzzles About Art: An Aesthetics Casebook> (St. Martin's Press, 1989), pp. 1-3.
Crítica | Filosofia | Leitura | Música |
 Central de filosofia e cultura Central de filosofia e cultura |
| Ética e Filosofia Política |
Filosofia |
Leitura |
Música |
|

A importância moral do sofrimento
Peter Singer
Universidade de Princeton
Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para a recusa de tomar esse sofrimento em consideração. Independentemente da natureza do ser, o princípio da igualdade exige que o sofrimento seja levado em linha de conta em termos igualitários relativamente a um sofrimento semelhante de qualquer outro ser, tanto quanto é possível fazer comparações aproximadas. Se um determinado ser não é capaz de sofrer nem de sentir satisfação nem felicidade, não há nada a tomar em consideração. É por isso que o limite da senciência (para usar o termo como uma abreviatura conveniente, ainda que não estritamente precisa, da capacidade de sofrer ou de sentir prazer ou felicidade) é a única fronteira defensável da preocupação pelo interesse alheio. Marcar esta fronteira com alguma característica como a inteligência ou a racionalidade seria marcá-la de modo arbitrário. Por que motivo não escolher uma outra característica qualquer, como, por exemplo, a cor da pele?
Os racistas violam o princípio da igualdade atribuindo maior peso aos interesses de membros da sua própria raça quando há um confronto entre os seus interesses e os de outra raça. Os racistas de ascendência europeia não aceitavam geralmente que a dor conta tanto quando é sentida pelos africanos, por exemplo, como quando é sentida pelos europeus. Do mesmo modo, aqueles a quem chamo «especistas» atribuem maior peso aos interesses dos membros da sua própria espécie quando há um conflito entre esses interesses e os das outras espécies. Os especistas humanos não aceitam que a dor sentida por porcos ou ratos seja tão má como a dor sentida por seres humanos.
Na realidade, este é, pois, o argumento completo para alargar o princípio da igualdade aos animais não humanos; mas surgem algumas dúvidas sobre o que esta igualdade implica na prática. Em particular, a última frase do parágrafo anterior pode levar algumas pessoas a responder: «É claro que a dor sentida por um rato não é tão má como a dor sentida por um ser humano. Os seres humanos têm maior consciência do que lhes está a acontecer e este facto torna o seu sofrimento mais intenso. Não se pode comparar a dor de uma pessoa, digamos, que morre de cancro numa agonia prolongada, com a de um rato de laboratório que sofre o mesmo destino».
Aceito perfeitamente que no caso descrito a vítima humana de cancro sofre mais que a vítima não humana. Este facto não põe em causa a igualdade na consideração de interesses dos não humanos. Significa antes que temos de ter cuidado quando comparamos os interesses de diferentes espécies. Em algumas situações, um membro de uma espécie sofrerá mais do que o de outra. Neste caso devemos continuar a aplicar o princípio da igualdade na consideração de interesses, mas o resultado dessa atitude consiste, é claro, em dar prioridade ao alívio do maior sofrimento. Um exemplo mais simples pode ajudar a esclarecer esta questão.
Se eu der uma forte palmada na garupa de um cavalo com a mão aberta, o cavalo pode sobressaltar-se, mas é de presumir que sinta pouca dor. A sua pele é suficientemente espessa para o proteger de uma simples palmada. Porém, se eu der a mesma palmada a um bebé, este chorará e é de presumir que sinta dor, porque a sua pele é mais sensível. Logo, é pior dar uma palmada a uma criança do que a um cavalo, se ambas forem administradas com igual força. Mas tem de haver algum tipo de golpe não sei o que poderá ser, mas talvez uma pancada com um pau pesado que cause ao cavalo tanta dor como a que provocamos a uma criança com uma simples palmada. É isto que pretendo dizer com «mesma quantidade de dor». E se considerarmos um mal infligir uma dada quantidade de dor a um bebé sem motivo, temos de considerar igualmente um mal infligir a mesma quantidade de dor a um cavalo sem motivo a não ser que sejamos especistas.
Entre os seres humanos e os animais há outras diferenças que causam outras complicações. Os seres humanos adultos normais possuem capacidades mentais que os levarão, em certas circunstâncias, a sofrer mais do que os animais nas mesmas circunstâncias. Se, por exemplo, decidirmos efectuar experiências científicas extremamente dolorosas ou letais em adultos humanos normais, raptados para o efeito ao acaso em parques públicos, os adultos que entrem nos parques terão medo de serem raptados. O terror resultante representará uma forma de sofrimento adicional à dor provocada pelas experiências. As mesmas experiências executadas em animais não humanos provocariam menor sofrimento uma vez que os animais não antecipariam o pavor de serem raptados e vítimas de experiências. É claro que isto não significa que seria um bem realizar essas experiências em animais, mas apenas que existe uma razão não especista para preferir usar animais em vez de adultos humanos normais, se é que essa experiência se deva alguma vez fazer. Note-se, contudo, que este mesmo argumento nos dá razões para preferir utilizar bebés humanos talvez órfãos ou seres humanos com deficiências intelectuais profundas em vez de adultos, uma vez que os bebés e os seres humanos com deficiências intelectuais profundas não fariam nenhuma ideia do que lhes iria acontecer. No que diz respeito a este argumento, os animais não humanos, os bebés e os deficientes mentais profundos estão na mesma categoria; e se usarmos este argumento para justificar experiências em animais não humanos, temos de perguntar a nós próprios se também estamos preparados para permitir experiências em bebés humanos e deficientes mentais profundos. Se fizermos uma distinção entre os animais e estes seres humanos, como poderemos fazê-lo senão com base numa preferência moralmente indefensável em favor dos membros da nossa espécie?
Há muitas áreas em que as capacidades mentais superiores dos seres humanos adultos normais fazem diferença: antecipação, memória mais pormenorizada, maior conhecimento do que está a acontecer, etc. Estas diferenças explicam por que motivo um ser humano a morrer de cancro sofre provavelmente mais do que um rato. É a angústia mental que torna a posição do ser humano muito mais difícil de suportar. No entanto, estas diferenças não apontam todas para um sofrimento maior por parte de um ser humano. Por vezes os animais podem sofrer mais devido à sua compreensão limitada. Se, por exemplo, estivermos a fazer prisioneiros em tempo de guerra, podemos explicar-lhes que embora se tenham de sujeitar à captura, ao interrogatório e à reclusão, não sofrerão outros agravos e serão postos em liberdade uma vez terminadas as hostilidades. No entanto, se capturarmos animais selvagens, não lhes podemos explicar que não ameaçamos as suas vidas. Um animal selvagem não pode distinguir uma tentativa de subjugar e prender de uma tentativa de matar; tanto uma como outra provocam o mesmo terror.
Pode objectar-se que é impossível comparar o sofrimento de diferentes espécies e que, por esta razão, quando os interesses de animais e de seres humanos entram em conflito, o princípio da igualdade não serve de orientação. É verdade que a comparação do sofrimento entre membros de diferentes espécies não se pode fazer com precisão. Nem se pode comparar com precisão, pelos mesmos motivos, o sofrimento de seres humanos diferentes. A precisão não é essencial. Como veremos em breve, mesmo que quiséssemos evitar infligir sofrimento aos animais apenas quando os interesses dos seres humanos não fossem afectados, seríamos forçados a efectuar mudanças radicais na forma como tratamos os animais, o que teria implicações relativamente à nossa alimentação, aos métodos de criação de animais, aos processos experimentais em muitas áreas da ciência, à nossa atitude perante a vida selvagem e a caça, as armadilhas e o uso de peles e relativamente a certas áreas do entretenimento como circos, touradas e jardins zoológicos. Em consequência disso, a quantidade total de sofrimento causado seria grandemente reduzida; seria tão reduzida que é difícil imaginar outra mudança de atitude moral que causasse uma redução tão grande da soma total de sofrimento no universo.
Peter Singer
Texto retirado de Ética Prática, de Peter Singer (Tradução de Álvaro Augusto Fernandes, Gradiva, 2000).
Crítica | Filosofia | Leitura | Música |
 Central de filosofia e cultura Central de filosofia e cultura |
| Filosofia da Ciência |
Filosofia |
Leitura |
Música |
|
Filosofia e ciências da natureza: alguns elementos históricos
Aires Almeida
Este texto pretende oferecer ao aluno uma panorâmica geral e introdutória do modo como os filósofos têm encarado as ciências da natureza ao longo da história, e apresentar simultaneamente alguns elementos básicos da própria história do desenvolvimento científico. Nestas páginas encontram-se alguns elementos da história da ciência, mas, sobretudo, da história da filosofia da ciência, assim como elementos de história das ideias em geral e de história da filosofia em particular; isto é, trata-se em grande parte de uma panorâmica do modo como os filósofos têm encarado a ciência ao longo do tempo, e não tanto uma descrição, ainda que geral, do desenvolvimento da própria ciência. Os desenvolvimentos científicos surgem apenas como pano de fundo. Procurar ver como ao longo da história a pergunta filosófica «O que é a ciência da natureza?» seria respondida, pareceu-me uma boa maneira de orientar este texto. Estas páginas incluem, como ilustração das ideias aqui apresentadas, algumas passagens dos filósofos e cientistas referidos. Apesar de essas passagens serem escolhidas a pensar na facilidade de compreensão por parte dos alunos, todo o texto pode ser lido passando por cima delas sem que algo de essencial se perca.
Apesar de o termo "ciência" ser muito abrangente, neste texto iremos sobretudo centrar a nossa atenção nas ciências da natureza. Pelo facto de as ciências da natureza, e em particular a física e a astronomia, se terem desenvolvido mais cedo do que as ciências sociais, exerceram e continuam a exercer uma influência assinalável no modo como os filósofos encaram a ciência acontecendo até muitas vezes que eles usam o termo "ciência" como abreviatura de "física". Ao longo do texto irei muitas vezes usar o termo «ciência» para falar das ciências da natureza; quando falar das ciências formais como a geometria ou a matemática em geral, será suficientemente claro que já não estou a falar de ciências da natureza.
1. Os gregos
Mitos e deuses
Quando surgiu a ciência? Esta parece ser uma pergunta simples. Contudo, tem frequentemente dado origem a longas discussões. Discussões que acabam quase sempre por se deslocar para uma outra pergunta mais básica: o que é a ciência? Mais básica, pois a resposta para aquela depende da solução encontrada para esta.
Ora, o termo "ciência" nem sempre foi entendido da mesma maneira e ainda hoje as opiniões acerca do que deve ou não ser considerado como científico continuam divididas. Uma definição rigorosa e consensual de ciência é, pois, algo difícil de estabelecer.
Mas isso não nos deve impedir de avançar. Assim, a melhor maneira de começar talvez seja a de correr o risco de propor uma definição de ciência que, apesar de imprecisa, nos possa servir como ponto de partida, mesmo que venha depois a ser corrigida: a ciência da natureza é o estudo sistemático e racional, baseado em métodos adequados de prova, da natureza e do seu funcionamento.
Muitas das perguntas mais elementares que os seres humanos colocam a si próprios desde que são seres humanos são perguntas que podem dar origem a estudos científicos. Eis alguns exemplos dessas perguntas: Porque é que chove? O que é o trovão? De onde vem o relâmpago? Por que razão crescem as ervas? Por que razão existem os montes? Por que razão tenho fome? Por que razão morrem os meus semelhantes? Porque é que cai a noite e a seguir vem o dia de novo? O que são as estrelas? Por que razão voam os pássaros?...
Mas estas perguntas podem dar origem também a outro tipo de respostas que não as científicas; podem dar origem a respostas de carácter religioso e mítico. Essas respostas têm a característica de não se basearem nos métodos mais adequados e de não serem o produto de estudos sistemáticos. Uma resposta mítica ou religiosa apela à vontade de um Deus ou de deuses e conta uma história da origem do universo. Essa resposta não se baseia em estudos sistemáticos da natureza, mas antes na observação diária não sistemática; e não são estudos racionais dado que não encorajam a crítica, mas antes a aceitação religiosa. Isto não quer dizer que as respostas míticas e religiosas não tivessem qualquer valor. Por exemplo, é óbvio que numa altura em que a ciência, com os seus métodos racionais de prova, ainda não estava desenvolvida, as explicações míticas e religiosas eram pelo menos uma maneira de responder à curiosidade natural dos seres humanos. Além disso, as explicações míticas e religiosas de um dado povo dão a esse povo uma importância central na ordem das coisas. E têm ainda outra característica importante: essas explicações constituem muitas vezes códigos de conduta moral, determinando de uma forma integrada com a origem mítica do universo, o que se deve e o que não se deve fazer.
As explicações míticas e religiosas foram antepassados da ciência moderna, não por darem importância central aos seres humanos na ordem das coisas nem por determinarem códigos de conduta baseados na ordem cósmica, mas por ao mesmo tempo oferecerem explicações de alguns fenómenos naturais apesar de essas explicações não se basearem em métodos adequados de prova nem na observação sistemática da natureza.
Os primeiros filósofos-cientistas
A ciência da natureza é diferente do mito e da religião. A ciência baseia-se em observações sistemáticas, é um estudo racional e usa métodos adequados de prova. Como é natural, os primeiros passos em direcção à ciência não revelam ainda todas as características da ciência revelam apenas algumas delas. O primeiro, e tímido, passo na direcção da ciência só foi dado no início do séc. VI a. C. na cidade grega de Mileto, por aquele que é apontado como o primeiro filósofo, Tales de Mileto.
Tales de Mileto acreditava em deuses. Só que a resposta que ele dá à pergunta acerca da origem ou princípio de tudo o que vemos no mundo já não é mítica; já não se baseia em entidades sobrenaturais.. Dizia Tales que o princípio de todas as coisas era algo que por todos podia ser directamente observado na natureza: a água. Tendo observado que a água tudo fazia crescer e viver, enquanto que a sua falta levava os seres a secar e morrer; tendo, talvez, reparado que na natureza há mais água do que terra e que grande parte do próprio corpo humano era formado por água; verificando que esse elemento se podia encontrar em diferentes estados, o líquido, o sólido e o gasoso, foi assim levado a concluir que tudo surgiu a partir da água. A explicação de Tales ainda não é científica; mas também já não é inteiramente mítica. Têm características da ciência e características do mito. Não é baseada na observação sistemática do mundo, mas também não se baseia em entidades míticas. Não recorre a métodos adequados de prova, mas também não recorre à autoridade religiosa e mítica.
Este último aspecto é muito importante. Consta que Tales desafiava aqueles que conheciam as suas ideias a demonstrar que não tinha razão. Esta é uma característica da ciência e da filosofia que se opõe ao mito e à religião. A vontade de discutir racionalmente ideias, ao invés de nos limitarmos a aceitá-las, é um elemento sem o qual a ciência não se poderia ter desenvolvido. Uma das vantagens da discussão aberta de ideias é que os defeitos das nossas ideias são criticamente examinados e trazidos à luz do dia por outras pessoas. Foi talvez por isso que outros pensadores da mesma região surgiram apresentando diferentes teorias e, deste modo, se iniciou uma tradição que se foi gradualmente afastando das concepções míticas anteriores. Assim apareceram na Grécia, entre outros, Anaximandro (séc. VI a. C.), Heraclito (séc. VI/V a. C.), Pitágoras (séc. VI a. C.), Parménides (séc. VI/V a. C.) e Demócrito (séc. V/IV a. C.). Este último viria mesmo a defender que tudo quanto existia era composto de pequeníssimas partículas indivisíveis (atomoi), unidas entre si de diferentes formas, e que na realidade nada mais havia do que átomos e o vazio onde eles se deslocavam. Foi o primeiro grande filósofo naturalista, que achava que não havia deuses e que a natureza tinha as suas próprias leis.
As ciências da natureza estavam num estado primitivo; pouco mais eram do que especulações baseadas na observação avulsa. Mas as ciências matemáticas começaram também desde cedo a desenvolver-se, e apresentaram desde o início muitos mais resultados do que as ciências da natureza. Pitágoras, por exemplo, descobriu vários resultados matemáticos importantes, e o nome dele ainda está associado ao teorema de Pitágoras da geometria (apesar de não se saber se terá sido realmente ele a descobrir este teorema, se um discípulo da sua escola). A escola pitagórica era profundamente mística; atribuía aos números e às suas relações um significado mítico e religioso. Mas os seus estudos matemáticos eram de valor, o que mostra mais uma vez como a ciência e a religião estavam misturadas nos primeiros tempos. Afinal, a sede de conhecimento que leva os seres humanos a fazer ciências, religiões, artes e filosofia é a mesma.
O maior desenvolvimento das ciências matemáticas teve repercussões importantíssimas para o desenvolvimento da ciência, para a filosofia da ciência e para a filosofia em geral. Os resultados matemáticos tinham uma característica muito diferente das especulações sobre a origem do universo e de todas as coisas. Ao passo que havia várias ideias diferentes quanto à origem das coisas, os resultados matemáticos eram consensuais. Eram consensuais porque os métodos de prova usados eram poderosos; dada a demonstração matemática de um resultado, era praticamente impossível recusá-lo.
A matemática tornou-se assim um modelo da certeza. Mas este modelo não é apropriado para o estudo da natureza, pois a natureza depende crucialmente da observação. Além disso, não se pode aplicar a matemática à natureza se não tivermos à nossa disposição instrumentos precisos de quantificação, como o termómetro ou o cronómetro. Assim, o sentimento de alguns filósofos era (e por vezes ainda é) o de que só o domínio da matemática era verdadeiramente «científico» e que só a matemática podia oferecer realmente a certeza. Só Galileu e Newton, já no século XVII, viriam a mostrar que a matemática se pode aplicar à natureza e que as ciências da natureza têm de se basear noutro tipo de observação diferente da observação que até aí se fazia.
Platão e Aristóteles
Uma das preocupações de Platão (428-348 a.C.) foi distinguir a verdadeira ciência e o verdadeiro conhecimento da mera opinião ou crença. Um dos problemas que atormentaram os filósofos gregos em geral e Platão em particular, foi o problema do fluxo da natureza. Na natureza verificamos que muitas coisas estão em mudança constante: as estações sucedem-se, as sementes transformam-se em árvores, os planetas e estrelas percorrem o céu nocturno. Mas como poderemos nós ter a esperança de conseguir explicar os fenómenos naturais, se eles estão em permanente mudança? Para os gregos, isto representava um problema por alguns dos motivos que já vimos: não tinham instrumentos para medir de forma exacta, por exemplo, a velocidade; e assim a matemática, que constituía o modelo básico de pensamento científico, era inútil para estudar a natureza. A matemática parecia aplicar-se apenas a domínios estáticos e eternos. Como o mundo estava em constante mudança, parecia a alguns filósofos que o mundo não poderia jamais ser objecto de conhecimento científico.
Era essa a ideia de Platão. Este filósofo recusava a realidade do mundo dos sentidos; toda a mudança que observamos diariamente era apenas ilusão, reflexos pálidos de uma realidade supra-sensível que poderia ser verdadeiramente conhecida. E a geometria, o ramo da matemática mais desenvolvida do seu tempo, era a ciência fundamental para conhecer o domínio supra-sensível. Para Platão, só podíamos ter conhecimento do domínio supra-sensível, a que ele chamou o domínio das Ideias ou Formas; do mundo sensível não podíamos senão ter opiniões, também elas em constante fluxo. O domínio do sensível era, para Platão, uma forma de opinião inferior e instável que nunca nos levaria à verdade universal, eterna e imutável, já que se a mesma coisa fosse verdadeira num momento e falsa no momento seguinte, então não poderia ser conhecida.
Podemos ver a distinção entre os dois mundos, que levaria à distinção entre ciência e opinião, na seguinte passagem de um dos seus diálogos:
Há que admitir que existe uma primeira realidade: o que tem uma forma imutável, o que de nenhuma maneira nasce nem perece, o que jamais admite em si qualquer elemento vindo de outra parte, o que nunca se transforma noutra coisa, o que não é perceptível nem pela vista, nem por outro sentido, o que só o entendimento pode contemplar. Há uma segunda realidade que tem o mesmo nome: é semelhante à primeira, mas é acessível à experiência dos sentidos, é engendrada, está sempre em movimento, nasce num lugar determinado para em seguida desaparecer; é acessível à opinião unida à sensação.
Platão, Timeu
Conhecer as ideias seria o mesmo que conhecer a verdade última, já que elas seriam os modelos ou causas dos objectos sensíveis. Como tal, só se poderia falar de ciência acerca das ideias, sendo que estas não residiam nas coisas. Procurar a razão de ser das coisas obrigava a ir para além delas; obrigava a ascender a uma outra realidade distinta e superior. A ciência, para Platão não era, pois, uma ciência acerca dos objectos que nos rodeiam e que podemos observar com os nossos sentidos. Neste aspecto fundamental é que o principal discípulo de Platão, Aristóteles (384-322 a.C.), viria a discordar do mestre.
Aristóteles não aceitou que a realidade captada pelos nossos sentidos fosse apenas um mar de aparências sobre as quais nenhum verdadeiro conhecimento se pudesse constituir. Bem pelo contrário, para ele não havia conhecimento sem a intervenção dos sentidos. A ciência, para ele, teria de ser o conhecimento dos objectos da natureza que nos rodeia.
É verdade que os sentidos só nos davam o particular e Aristóteles pensava que não há ciência senão do universal. Mas, para ele, e ao contrário do seu mestre, o universal inferia-se do particular. Aristóteles achava que, para se chegar ao conhecimento, nos devíamos virar para a única realidade existente, aquela que os sentidos nos apresentavam.
Sendo assim, o que tínhamos de fazer consistia em partir da observação dos casos particulares do mesmo tipo e, pondo de parte as características próprias de cada um (por um processo de abstracção), procurar o elemento que todos eles tinham em comum (o universal). Por exemplo, todas as árvores são diferentes umas das outras, mas, apesar das suas diferenças, todas parecem ter algo em comum. Só que não poderíamos saber o que elas têm em comum se não observássemos cada uma em particular, ou pelo menos um elevado número delas. Ao processo que permite chegar ao universal através do particular chama-se por vezes «indução». A indução é, pois, o método correcto para chegar à ciência, tal como escreveu Aristóteles:
É evidente também que a perda de um sentido acarreta necessariamente o desaparecimento de uma ciência, que se torna impossível de adquirir. Só aprendemos, com efeito, por indução ou por demonstração. Ora a demonstração faz-se a partir de princípios universais, e a indução a partir de casos particulares. Mas é impossível adquirir o conhecimento dos universais a não ser pela indução, visto que até os chamados resultados da abstracção não se podem tornar acessíveis a não ser pela indução. (...) Mas induzir é impossível para quem não tem a sensação: porque é nos casos particulares que se aplica a sensação; e para estes não pode haver ciência, visto que não se pode tirá-la de universais sem indução nem obtê-la por indução sem a sensação.»
Aristóteles, Segundos Analíticos
Aristóteles representa um avanço importante para a história da ciência. Além de ter fundado várias disciplinas científicas (como a taxionomia biológica, a cosmologia, a meteorologia, a dinâmica e a hidrostática), Aristóteles deu um passo mais na direcção da ciência tal como hoje a conhecemos: pela primeira vez encarou a observação da natureza de um ponto de vista mais sistemático. Ao passo que para Platão a verdadeira ciência se fazia na contemplação dos universais, descurando a observação da natureza que é fundamental na ciência, Aristóteles dava grande importância à observação.
Aristóteles desenvolveu teorias engenhosas sobre muitas áreas da ciência e da filosofia. A própria filosofia da ciência foi pela primeira vez estudada com algum rigor por ele. Aristóteles achava que havia vários tipos de explicações, que correspondiam a vários tipos de causas. Um desses tipos de causas e de explicações era fundamental, segundo Aristóteles: a explicação teleológica ou finalista. Para Aristóteles, todas as coisas tendiam naturalmente para um fim (a palavra portuguesa «teleologia» deriva da palavra grega para fim: telos), e era esta concepção teleológica da realidade que explicava a natureza de todos os seres. Esta concepção da ciência como algo que teria de ser fundamentalmente teleológica iria perdurar durante muitos séculos, e constituir até um obstáculo importante ao desenvolvimento da ciência. Ainda hoje muitas pessoas pensam que a ciência contemporânea descreve o modo como os fenómenos da natureza ocorrem, mas que não explica o porquê desses fenómenos; isto é uma ideia errada, que resulta ainda da ideia aristotélica de que só as explicações finalistas são verdadeiras explicações.
Devido a um conjunto de factores, a Grécia não voltou a ter pensadores com a dimensão de Platão e Aristóteles. Mesmo assim apareceram ainda, no séc. III a. C., alguns contributos para a ciência, tais como os Elementos de Geometria de Euclides, as descobertas de Arquimedes na Física e, já no séc. II, Ptolomeu na astronomia.
2. A idade média
Crer para compreender
Entretanto, o mundo grego desmoronou-se e o seu lugar cultural viria, em grande parte, a ser ocupado pelo império romano. Entretanto, surge uma nova religião, baseada na religião judaica e inspirada por Jesus Cristo, que a pouco e pouco foi ganhando mais adeptos. O próprio imperador romano, Constantino, converteu-se ao cristianismo no início do século IV, acabando o cristianismo por se tornar a religião oficial do Império Romano. Inicialmente pregada por Cristo e seus apóstolos, a sua doutrina veio também a ser difundida e explicada por muitos outros seguidores, estando entre os primeiros S. Paulo e os padres da igreja dos quais se destacou S. Agostinho (354-430).
Tratava-se de uma doutrina que apresentava uma mensagem apoiada na ideia de que este mundo era criado por um Deus único, omnipotente, omnisciente, livre e infinitamente bom, tendo sido nós criados à sua imagem e semelhança. Sendo assim, tanto os seres humanos como a própria natureza eram o resultado e manifestação do poder, da sabedoria, da vontade e da bondade divinas. Como prova disso, Deus teria enviado o seu filho, o próprio Cristo, e deixado a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Por sua vez, os seres humanos, como criaturas divinas, só poderiam encontrar o sentido da sua existência através da fé nas palavras de Cristo e das Escrituras. Uma das diferenças fundamentais do cristianismo em relação ao judaísmo consistia na crença de que Jesus era um deus incarnado, coisa que o judaísmo sempre recusou e continua a recusar.
A religião cristã acabou por ser a herdeira da civilização grega e romana. Aquando da derrocada do império romano, foram os cristãos e os árabes , espalhados por diversos mosteiros, que preservaram o conhecimento antigo. Dada a sua formação essencialmente religiosa, tinham tendência para encarar o conhecimento, sobretudo o conhecimento da natureza, de uma maneira religiosa. O nosso destino estava nas mãos de Deus e até a natureza nos mostrava os sinais da grandeza divina. Restava-nos conhecer a vontade de Deus. Só que, para isso, de nada serve a especulação filosófica se ela não for iluminada pela fé. E o conhecimento científico não pode negar os dogmas religiosos, e deve até fundamentá-los. A ciência e a filosofia ficam assim submetidas à religião; a investigação livre deixa de ser possível. Esta atitude de totalitarismo religioso irá acabar por ter consequências trágicas para Galileu e para Giordano Bruno (1548-1600), tendo este último sido condenado pela Igreja em função das suas doutrinas científicas e filosóficas: foi queimado vivo.
As teorias dos antigos filósofos gregos deixaram de suscitar o interesse de outrora. A sabedoria encontrava-se fundamentalmente na Bíblia, pois esta era a palavra divina e Deus era o criador de todas as coisas. Quem quisesse compreender a natureza, teria, então, que procurar tal conhecimento não directamente na própria natureza, mas nas Sagradas Escrituras. Elas é que continham o sentido da vontade divina e, portanto, o sentido de toda a natureza criada. Era isso que merecia verdadeiramente o nome de «ciência».
Compreender a natureza consistia, no fundo, em interpretar a vontade de Deus patente na Bíblia e o problema fundamental da ciência consistia em enquadrar devidamente os fenómenos naturais com o que as Escrituras diziam. Assim se reduzia a ciência à teologia, tal como é ilustrado na seguinte passagem de S. Boaventura (1217-1274), tirada de um escrito cujo título é, a este respeito, elucidativo:
E assim fica manifesto como a "multiforme sabedoria de Deus", que aparece claramente na Sagrada Escritura, está oculta em todo o conhecimento e em toda a natureza. Fica, igualmente, manifesto como todas as ciências estão subordinadas à teologia, pelo que esta colhe os exemplos e utiliza a terminologia pertencente a todo o género de conhecimentos. Fica, além disso, manifesto como é grande a iluminação divina e de que modo no íntimo de tudo quanto se sente ou se conhece está latente o próprio Deus.
S. Boaventura, Redução das Ciências à Teologia
Investigações recentes revelaram que, apesar do que atrás se disse, houve mesmo assim algumas contribuições que iriam ter a sua importância no que posteriormente viria a pertencer ao domínio da ciência. Mas o mundo medieval é inequivocamente um mundo teocêntrico e a instituição que se encarregou de fazer perdurar durante séculos essa concepção foi a Igreja. A Igreja alargou a sua influência a todos os domínios da vida. Não foi apenas o domínio religioso, foi também o social, o económico, o artístico e cultural, e até o político. Com o poder adquirido, uma das principais preocupações da Igreja passou a ser o de conservar tal poder, decretando que as suas verdades não estavam sujeitas à crítica e quem se atrevesse sequer a discuti-las teria de se confrontar com os guardiães em terra da verdade divina.
Compreender para crer
Todavia, começou a surgir, por parte de certos pensadores, a necessidade de dar um fundamento teórico, ou racional, à fé cristã. Era preciso demonstrar as verdades da fé; demonstrar que a fé não contradiz a razão e vice-versa. Se antes se dizia que era preciso «crer para compreender», deveria então juntar-se «compreender para crer». A fé revela-nos a verdade, a razão demonstra-a. Assim, fé e razão conduzem uma à outra.
Foi esta a posição do mais destacado de todos os filósofos cristãos, S. Tomás de Aquino (1224-1274). S. Tomás veio dar ao cristianismo todo um suporte filosófico, socorrendo-se para tal dos conceitos da filosofia aristotélica que se vê, deste modo, cristianizada. Tanto os conceitos metafísicos de Aristóteles ¾ nomeadamente que tudo quanto existe tem uma causa primeira e um fim último ¾ como a sua cosmologia (geocentrismo reformulado por Ptolomeu: o universo é formado por esferas concêntricas, no meio do qual está a Terra imóvel) foram utilizados e adaptados à doutrina cristã da Igreja por S. Tomás. Aristóteles passou a ser estudado e comentado nas escolas (que pertenciam à Igreja, funcionando nos seus mosteiros) e tornou-se, a par das Escrituras, uma autoridade no que diz respeito ao conhecimento da natureza.
A alquimia
Além do que ficou dito, há um aspecto que não pode ser desprezado quando se fala da ciência na Idade Média e que é a alquimia. As práticas alquímicas, apesar do manto de segredo com que se cobriam, eram muito frequentes na Idade Média. O alquimista encarava a natureza como algo de misterioso e fantástico, o que não era estranho ao espírito medieval, em que tudo estava impregnado de simbolismo. Cabia-lhe decifrar e utilizar esses símbolos para descobrir as maravilhas da natureza. Desse modo ele poderia não só penetrar nos seus segredos como também manipulá-la e, por exemplo, transformar os metais vis em metais preciosos. Por tudo isso, os alquimistas foram vistos, por muitos, como verdadeiros agentes do demónio. O anonimato seria a melhor forma de prosseguir nas suas práticas, as quais eram consideradas como ilícitas em relação aos programas oficiais das escolas da época. Daí a existência das chamadas sociedades secretas, do ocultismo e do esoterismo, onde a própria situação de anonimato ia a par do mistério que cobre todas as coisas.
Há quem defenda que tudo isso, ao explorar certos aspectos da natureza proibidos pelas autoridades religiosas deu também o seu contributo à ciência, nomeadamente à química, que, na altura, ainda não tinha surgido. Mas esta tese tem poucos exemplos em que se apoiar e parece até que o verdadeiro espírito científico moderno teve de se debater com a resistência dos fantasmas irracionais associados à alquimia e outras práticas do género pouco dadas à compreensão racional dos fenómenos naturais. A alquimia continuou a praticar-se e chegou mesmo a despertar o interesse de algumas das mais importantes figuras da história da ciência, como foi o caso de Newton. O mais conhecido praticante da alquimia foi Paracelso (1493-1541), em pleno período renascentista.
3. A ciência moderna
Os precursores
Não é possível dizer exactamente quando terminou a Idade Média e começou o período que se lhe seguiu. Há, todavia, uma data que é frequentemente apontada como referência simbólica da passagem de uma época à outra. Essa data é 1453, data que marca a queda do Império Romano do Oriente.
O início do Renascimento trouxe consigo uma longa série de transformações que seria impossível referir aqui na sua totalidade. Algumas dessas transformações mostraram os seus primeiros indícios ainda no período medieval e tiveram muito que ver com, entre outros factos, o aparecimento de novas classes que já não estavam inseridas na rígida estrutura feudal, própria do mundo rural medieval. Essas classes são as dos mercadores e artífices, as quais dependem essencialmente do comércio marítimo. Fora da tradicional hierarquia feudal, muitas pessoas prosperam nas cidades. Cidades que se desenvolvem e onde começa a surgir também uma indústria, sobretudo ligada à manufactura de produtos ¾ com a valorização dos artesãos ¾ e à construção naval. Isso trouxe consigo um inevitável progresso técnico que viria a colocar novos problemas no domínio da ciência. Para tal contribuíram, além do comércio naval atrás referido, também os descobrimentos marítimos. Descobrimentos em que Portugal ocupa um lugar de relevo. O mundo fechado do tempo das catedrais começa, assim, a abrir-se, com as velhas certezas a ruir e os horizontes de um «novo universo» a alargar-se.
O homem renascentista começou a virar-se mais para si do que para os dogmas bíblicos e a interessar-se cada vez mais pelas ideias, durante tantos séculos esquecidas, dos grandes filósofos gregos, de modo a fazer renascer os ideais da cultura clássica ¾ daí o nome de Renascimento. Esta é uma nova atitude a que se chamou «humanismo». O protótipo do homem renascentista é Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquitecto, engenheiro, escritor, etc., a quem tudo interessa. Muitas verdades intocáveis são revistas e caem do seu pedestal. O que leva, inclusivamente, à contestação da autoridade religiosa do Papa, como acontece com Lutero (1483-1546), dando origem ao protestantismo e à reforma da Igreja.
As mudanças acima apontadas irão estar na base de um acontecimento de importância capital na história da ciência: a criação, por Galileu (1564-1642), da ciência moderna. Com a criação da ciência moderna foi toda uma concepção da natureza que se alterou, de tal modo que se pode dizer que Galileu rompeu radicalmente com a tradicional concepção do mundo incontestada durante tantos séculos.
É claro que Galileu não esteve sozinho e podemos apontar pelo menos dois nomes que em muito ajudaram a romper com essa tradição e contribuíram de forma evidente para a criação da ciência moderna: Copérnico (1473-1543) e Francis Bacon (1561-1626).
Por um lado, Copérnico com a publicação do seu livro A Revolução das Órbitas Celestes veio defender uma teoria que não só se opunha à doutrina da Igreja, como também ao mais elementar senso comum, enquadrados pela autoridade da filosofia aristotélica largamente ensinada nas universidades da época: essa teoria era o heliocentrismo.
O heliocentrismo, ao contrário do geocentrismo até então reinante, veio defender que a Terra não se encontrava imóvel no centro do universo com os planetas e o Sol girando à sua volta, mas que era ela que se movia em torno do Sol. Ao defender esta teoria, Copérnico baseava-se na convicção de que a natureza não devia ser tão complicada quanto o esforço que era necessário para, à luz do geocentrismo aristotélico, compreender o movimento dos planetas, as fases da Lua e as estações do ano.
Seriam Galileu, graças às observações com o seu telescópio, e o astrónomo alemão Kepler (1571-1630), ao descobrir as célebres leis do movimento dos planetas, a completar aquilo que Copérnico não chegou a fazer: apresentar as provas que davam definitivamente razão à teoria heliocêntrica, condenando a teoria geocêntrica como falsa. Nada disto, porém, aconteceu sem uma grande resistência por parte dos «sábios» da altura e da Igreja, tendo esta ameaçado e mesmo julgado Galileu por tal heresia.
Por outro lado, Bacon propôs na sua obra Novum Organum um novo método para o estudo da natureza que viria a tornar-se uma marca distintiva da ciência moderna. Bacon defende a experimentação seguida da indução.
Mas não vimos atrás que também Aristóteles defendia a indução? É verdade que já há cerca de dois mil anos antes Aristóteles propunha a indução como método de conhecimento. Só que, para este, a indução não utilizava a experimentação. Se Aristóteles tivesse recorrido à experimentação, facilmente poderia concluir que, ao contrário do que estava convencido, a velocidade da queda dos corpos não depende do seu peso. Para Aristóteles, a indução partia da simples enumeração de casos particulares observados, enquanto que Bacon falava de uma observação que não era meramente passiva, até porque o homem de ciência deveria estar atento aos obstáculos que se interpõem entre o espírito humano e a natureza. Assim, seria necessário eliminar da observação vulgar as falsas imagens ¾ que tinham diferentes origens e a que Bacon dava o nome de idola ¾ e pôr essa observação à prova através da experimentação.
A par do que ficou dito, Bacon falava de uma ciência já não contemplativa como a anterior, mas uma ciência «activa e operativa» que visava possibilitar aos seres humanos os meios de intervir na natureza e a dominar. Esta ciência dos efeitos traz consigo o germe da interdependência entre ciência e tecnologia.
O nascimento da ciência moderna: Galileu
O que acaba de se referir contribuiu para o aparecimento de uma nova ciência, mas o seu fundador, como começou por se assinalar, foi Galileu.
Há três tipos de razões que fizeram de Galileu o pai de uma nova forma de encarar a natureza: em primeiro lugar, deu autonomia à ciência, fazendo-a sair da sombra da teologia e da autoridade livresca da tradição aristotélica; em segundo lugar, aplicou pela primeira vez o novo método, o método experimental, defendendo-o como o meio adequado para chegar ao conhecimento; finalmente, deu à ciência uma nova linguagem, que é a linguagem do rigor, a linguagem matemática.
Ao dar autonomia à ciência, Galileu fê-la verdadeiramente nascer. Embora na altura se lhe chamasse «filosofia da natureza», era a ciência moderna que estava a dar os seus primeiros passos. Antes disso, a ciência ainda não era ciência, mas sim teologia ou até metafísica. A verdade acerca das coisas naturais ainda se ia buscar às Escrituras e aos livros de Aristóteles.
E não foi fácil a Galileu quebrar essa dependência, tendo que se defender, após a publicação do seu livro Diálogo dos Grandes Sistemas, das acusações de pôr em causa o que a Bíblia dizia. Esta carta de Galileu é bem disso exemplo:
Posto isto, parece-me que nas discussões respeitantes aos problemas da natureza, não se deve começar por invocar a autoridade de passagens das Escrituras; é preciso, em primeiro lugar, recorrer à experiência dos sentidos e a demonstrações necessárias. Com efeito, a Sagrada Escritura e a natureza procedem igualmente do Verbo divino, sendo aquela ditada pelo Espírito Santo, e esta, uma executora perfeitamente fiel das ordens de Deus. Ora, para se adaptarem às possibilidades de compreensão do maior número possível de homens, as Escrituras dizem coisas que diferem da verdade absoluta, quer na sua expressão, quer no sentido literal dos termos; a natureza, pelo contrário, conforma-se inexorável e imutavelmente às leis que lhe foram impostas, sem nunca ultrapassar os seus limites e sem se preocupar em saber se as suas razões ocultas e modos de operar estão dentro das capacidades de compreensão humana. Daqui resulta que os efeitos naturais e a experiência sensível que se oferece aos nossos olhos, bem como as demonstrações necessárias que daí retiramos não devem, de maneira nenhuma, ser postas em dúvida, nem condenadas em nome de passagens da Escritura, mesmo quando o sentido literal parece contradizê-las.
Galileu, Carta a Cristina de Lorena
Foi também Galileu quem, na linha de Bacon, utilizou pela primeira vez o método experimental, o que lhe permitiu chegar a resultados completamente diferentes daqueles que se podiam encontrar na ciência tradicional. Um exemplo do pioneirismo de Galileu na utilização do método experimental é o da utilização do famoso plano inclinado, por si construído para observar em condições ideais (ultrapassando os obstáculos da observação directa) o movimento da queda dos corpos. Pôde, desse modo, repetir as experiências tantas vezes quantas as necessárias e registar meticulosamente os resultados alcançados. Tais resultados devem-se, ainda, a uma novidade que Galileu acrescentou em relação ao método indutivo de Bacon: o raciocínio matemático. A ciência não poderia mais construir-se e desenvolver-se tendo por base a interpretação dos textos sagrados; mas também não o poderia fazer por simples dedução lógica a partir de dogmas teológicos:
Ao cientista só se deve exigir que prove o que afirma. (...) Nas disputas dos problemas das ciências naturais, não se deve começar pela autoridade dos textos bíblicos, mas sim pelas experiências sensatas e pelas demonstrações indispensáveis.
Galileu, Audiência com o Papa Urbano VIII
Tratava-se de uma ciência cujas verdades deveriam ter um conteúdo empírico e que podiam ser não só expressas, mas também demonstradas numa linguagem já não qualitativa mas quantitativa: a linguagem matemática. Foi o que aconteceu quando Galileu, graças ao referido plano inclinado, pôs em prática o novo método e começou a investigar o movimento natural dos corpos. O resultado foi formular uma lei universal expressa matematicamente, o que tornava também possível fazer previsões. Diz ele:
Não há, talvez, na natureza nada mais velho que o movimento, e não faltam volumosos livros sobre tal assunto, escritos por filósofos. Apesar disso, muitas das suas propriedades (...) não foram observadas nem demonstradas até ao momento. (...) Com efeito, que eu saiba, ninguém demonstrou que o corpo que cai, partindo de uma situação de repouso, percorre em tempos iguais, espaços que mantêm entre si uma proporção idêntica à que se verifica entre os números ímpares sucessivos começando pela unidade.
Galileu, As Duas Novas Ciências
A velocidade da queda dos corpos (queda livre), é de tal modo apresentada que pode ser rigorosamente descrita numa fórmula matemática. Não seria possível fazer ciência sem se dominar a linguagem matemática. Metaforicamente, é através da matemática que a natureza se exprime:
A filosofia está escrita neste grande livro que está sempre aberto diante de nós: refiro-me ao universo; mas não pode ser lido antes de termos aprendido a sua linguagem e de nos termos familiarizado com os caracteres em que está escrito. Está escrito em linguagem matemática e as letras são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma só palavra.
Galileu, Il Saggiatore
A descrição matemática da realidade, característica da ciência moderna, trouxe consigo uma ideia importante: conhecer é medir ou quantificar. Nesse caso, os aspectos qualitativos não poderiam ser conhecidos. Também as causas primeiras e os fins últimos aristotélicos, pelos quais todas as coisas se explicavam, deixaram de pertencer ao domínio da ciência. Com Galileu a ciência aprende a avançar em pequenos passos, explicando coisas simples e avançando do mais simples para o mais complexo. Em lugar de procurar explicações muito abrangentes, procurava explicar fenómenos simples. Em vez de tentar explicar de forma muito geral o movimento dos corpos, procurava estudar-lhe as suas propriedades mais modestas. E foi assim, com pequenos passos, que a ciência alcançou o tipo de explicações extremamente abrangentes que temos hoje. Inicialmente, parecia que a ciência estava mais interessada em explicar o «como» das coisas do que o seu «porquê»; por exemplo, parecia que os resultados de Galileu quanto ao movimento dos corpos se limitava a explicar o modo como os corpos caem e não a razão pela qual caem; mas, com a continuação da investigação, este tipo de explicações parcelares acabaram por se revelar fundamentais para se alcançar explicações abrangentes e gerais do porquê das coisas só que agora estas explicações gerais estão solidamente ancoradas na observação e na medição paciente, assim como na descrição pormenorizada de fenómenos mais simples.
O mecanicismo: Descartes e Newton
A ciência galilaica lançou as bases para uma nova concepção da natureza que iria ser largamente aceite e desenvolvida: o mecanicismo.
O mecanicismo, contrariamente ao organicismo anteriormente reinante que concebia o mundo como um organismo vivo orientado para um fim, via a natureza como um mecanismo cujo funcionamento se regia por leis precisas e rigorosas. À maneira de uma máquina, o mundo era composto de peças ligadas entre si que funcionavam de forma regular e poderiam ser reduzidas às leis da mecânica. Uma vez conhecido o funcionamento das suas peças, tal conhecimento é absolutamente perfeito, embora limitado. Um ser persistente e inteligente pode conhecer o funcionamento de uma máquina tão bem como o seu próprio construtor e sem ter que o consultar a esse respeito.
Um dos grandes defensores do mecanicismo foi o filósofo francês Descartes (1596-1656), que chegou mesmo a escrever o seguinte:
Eu não sei de nenhuma diferença entre as máquinas que os artesãos fazem e os diversos corpos que a natureza por si só compõe, a não ser esta: que os efeitos das máquinas não dependem de mais nada a não ser da disposição de certos tubos, que devendo ter alguma relação com as mãos daqueles que os fazem, são sempre tão grandes que as suas figuras e movimentos se podem ver, ao passo que os tubos ou molas que causam os efeitos dos corpos naturais são ordinariamente demasiado pequenos para poderem ser percepcionados pelos nossos sentidos. Por exemplo, quando um relógio marca as horas por meio das rodas de que está feito, isso não lhe é menos natural do que uma árvore a produzir os seus frutos.
Descartes, Princípios da Filosofia
O mecanicismo é o antecessor do fisicalismo, uma doutrina que hoje em dia está no centro de grande parte da investigação dos filósofos contemporâneos. Tanto o mecanicismo como o fisicalismo são diferentes formas de reducionismo.
O que é o reducionismo? O reducionismo é a ideia, central no desenvolvimento da ciência e da filosofia, de que podemos reduzir alguns fenómenos de um certo tipo a fenómenos de outro tipo. Do ponto de vista psicológico e até filosófico, o reducionismo pode ser encarado como uma vontade de diminuir drasticamente o domínio de fenómenos primitivos existentes na natureza. Por exemplo, hoje em dia sabemos que todos os fenómenos químicos são no fundo agregados de fenómenos físicos; isto é, os fenómenos químicos são fenómenos que derivam dos físicos daí dizer-se que os fenómenos físicos são primitivos e que os químicos são derivados. Mas o reducionismo é mais do que uma vontade de diminuir o domínio de fenómenos primitivos: é um aspecto da tentativa de compreender a natureza última da realidade; é um aspecto importante da tentativa de saber o que explica os fenómenos. Assim, se os fenómenos químicos são no fundo fenómenos físicos, e se tivermos uma boa explicação e uma boa compreensão do que são os fenómenos físicos, então teremos também uma boa explicação e uma boa compreensão dos fenómenos químicos, desde que saibamos reduzir a química à física. O mecanicismo foi refutado no século XIX por Maxwell (1831-79), que mostrou que a radiação electromagnética e os campos electromagnéticos não tinham uma natureza mecânica. O mecanicismo é a ideia segundo a qual tudo o que acontece se pode explicar em termos de contactos físicos que produzem «empurrões» e «puxões».
Dado que o mecanicismo é uma forma de reducionismo, não é de admirar que o principal objectivo de Descartes tenha sido o de unificar as diferentes ciências como se de uma só se tratasse, de modo a constituir um saber universal. Não via mesmo qualquer motivo para que se estudasse cada uma das ciências em separado, visto que a razão em que se apoia o estudo de uma ciência é a mesma que está presente no estudo de qualquer outra:
Todas as ciências não são mais do que sabedoria humana, que permanece sempre una e sempre a mesma, por mais diferentes que sejam os objectos aos quais ela se aplica, e que não sofre nenhumas alterações por parte desses objectos, da mesma forma que a luz do Sol não sofre nenhumas modificações por parte das variadíssimas coisas que ilumina.
Descartes, Regras para a Direcção do Espírito
Para atingir tal objectivo seria necessário satisfazer três condições: dar a todas as ciências o mesmo método; partir do mesmo princípio; assentar no mesmo fundamento. Só assim se poderiam unificar as ciências.
Quanto ao método, Descartes achava também que só o rigor matemático poderia fazer as ciências dar frutos. Daí que tivesse dado o nome de mathesis universalis ao seu projecto de unificação das ciências. A matemática deveria, portanto, servir todas as ciências:
Deve haver uma ciência geral que explica tudo o que se pode investigar respeitante à ordem e à medida, sem as aplicar a uma matéria especial: esta ciência designa-se (...) pelo vocábulo já antigo e aceite pelo uso de mathesis universalis, porque encerra tudo o que fez dar a outras ciências a denominação de partes das matemáticas.
Descartes, Regras para a Direcção do Espírito
Relativamente à segunda condição, o princípio de que todo o conhecimento deveria partir, só poderia ser o pensamento ou razão. Descartes queria tomar como princípio do conhecimento alguma verdade que fosse de tal forma segura, que dela não pudéssemos sequer duvidar. E a única certeza inabalável que, segundo ele, resistia a qualquer dúvida só podia ser a evidência do próprio acto de pensar.
Finalmente, em relação ao fundamento do conhecimento, este deveria ser encontrado, segundo Descartes, em Deus. Deus era a única garantia da veracidade dos dados ¾ racionais e não sensíveis ¾ e, consequentemente, da verdade do conhecimento. Sem Deus não poderíamos ter a certeza de nada. Ele foi o responsável pelas ideias inatas que há em nós, tornando-se por isso o fundamento metafísico do conhecimento.
Temos, assim, as diversas ciências da época concebidas como os diferentes ramos de uma mesma árvore, ligados a um tronco comum e alimentados pelas mesmas raízes. As raízes de que se alimenta a ciência são, como vimos, as ideias inatas colocadas em nós por Deus. Estamos, neste caso, no domínio da metafísica:
Assim toda a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco é a física, e os ramos que saem deste tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais, a saber, a medicina, a mecânica e a moral.
Descartes, Princípios da Filosofia
Vale a pena salientar duas importantes diferenças em relação a Galileu.
A primeira é a do papel que Descartes atribuiu à experiência. Se o método experimental de Galileu parte da observação sensível, o mesmo já não acontece com Descartes, cujo ponto de partida é o pensamento, acarretando com isso uma diferença de método. Não é que, para Descartes, a experiência não tenha qualquer papel, mas este é apenas complementar em relação à razão. Reforça-se, todavia, a importância da matemática.
A segunda diferença diz respeito ao lugar da metafísica. Enquanto Galileu se demarcou claramente de qualquer pressuposto metafísico, Descartes achava que a metafísica era o fundamento de todo o conhecimento verdadeiro. Mas se Descartes via em Deus o fundamento do conhecimento, não achava necessário, todavia, fazer intervir a metafísica na investigação e descrição dos fenómenos naturais.
Entretanto, a ciência moderna ia dando os seus frutos e a nova concepção do mundo, o mecanicismo, ganhando cada vez mais adeptos. Novas ciências surgiram, como é o caso da biologia, cuja paternidade se atribuiu a Harvey (1578-1657), com a descoberta da circulação do sangue. E assim se chegou àquele que é uma das maiores figuras da história da ciência, que nasceu precisamente no ano em que Galileu morreu: o inglês Isaac Newton (1642-1727).
Ao publicar o seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia da Natureza, Newton foi responsável pela grande síntese mecanicista. Este livro tornou-se numa espécie de Bíblia da ciência moderna. Aí completou o que restava por fazer aos seus antecessores e unificou as anteriores descobertas sob uma única teoria que servia de explicação a todos os fenómenos físicos, quer ocorressem na Terra ou nos céus. Teoria que tem como princípio fundamental a lei da gravitação universal, na qual se afirmava que «cada corpo, cada partícula de matéria do universo, exerce sobre qualquer outro corpo ou partícula uma força atractiva proporcional às respectivas massas e ao inverso do quadrado da distância entre ambos».
Partindo deste princípio de aplicação geral, todos os fenómenos naturais poderiam, recorrendo ao cálculo matemático ¾ o cálculo infinitesimal, também inventado por Newton ¾ , ser derivados. Vejamos o que, a esse propósito, escreveu:
Proponho este trabalho como princípios matemáticos da filosofia, já que o principal problema da filosofia parece ser este: investigar as forças da natureza a partir dos fenómenos do movimento, e depois, a partir dessas forças, demonstrar os outros fenómenos; (...) Gostaria que pudéssemos derivar o resto dos fenómenos da natureza pela mesma espécie de raciocínio a partir de princípios mecânicos, pois sou levado por muitas razões a suspeitar que todos eles podem depender de certas forças pelas quais as partículas dos corpos, por causas até aqui desconhecidas, são ou mutuamente impelidas umas para as outras, e convergem em figuras regulares, ou são repelidas, e afastam-se umas das outras.
Newton, Princípios Matemáticos de Filosofia da Natureza
O universo era, portanto, um conjunto de corpos ligados entre si e regidos por leis rígidas. Massa, posição e extensão, eis os únicos atributos da matéria. No funcionamento da grande máquina do universo não havia, pois, lugar para qualquer outra força exterior ou divina. E, como qualquer máquina, o movimento é o seu estado natural. Por isso o mecanicismo apresentava uma concepção dinâmica do universo e não estática como pensavam os antigos.
Os fundamentos da ciência: Hume e Kant
Entretanto, os resultados proporcionados pela física newtoniana iam fazendo desaparecer as dúvidas que ainda poderiam subsistir em relação ao ponto de vista mecanicista e determinista da natureza. Os progressos foram imensos, o que parecia confirmar a justeza de tal ponto de vista.
A velha questão acerca do que deveria ser a ciência estava, portanto, ultrapassada. Interessava, sim, explicar a íntima articulação entre matemática e ciência, bem como os fundamentos do método experimental. Mas tais problemas imediatamente iriam dar origem a outro mais profundo: se o que caracteriza o conhecimento científico é o facto de produzir verdades universais e necessárias, então em que se baseiam a universalidade e necessidade de tais conhecimentos?
Este problema compreende-se melhor se pensarmos que a inferência válida que se usa na matemática e na lógica tem uma característica fundamental que a diferencia da inferência que se usa na ciência e a que geralmente se chama "indução", apesar de este nome referir muitos tipos diferentes de inferências. Na inferência válida da matemática e da lógica, é logicamente impossível que a conclusão seja falsa e as premissas sejam verdadeiras. Mas o mesmo não acontece na inferência indutiva: neste caso, podemos ter uma boa inferência com premissas verdadeiras, mas a sua conclusão pode ser falsa. Isto levanta um problema de justificação: como podemos justificar que as conclusões das inferências são realmente verdadeiras? Na inferência válida, é logicamente impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa; mas como podemos justificar que, na boa inferência indutiva seja impossível que as conclusões sejam falsas se as premissas forem verdadeiras? É que essa impossibilidade não é fácil de compreender, dado que não é uma impossibilidade lógica. E apesar de as ciências da natureza usarem também muitas inferências válidas, não podem avançar sem inferências indutivas.
O filósofo empirista escocês David Hume (1711-1776) no seu Ensaio sobre o Entendimento Humano defendia que tudo o que sabemos procede da experiência, mas que esta só nos mostra como as coisas acontecem e não que é impossível que acontecem de outra maneira. É um facto que hoje o Sol nasceu, o que também sucedeu ontem, anteontem e nos outros dias anteriores. Mas isso é tudo o que os sentidos nos autorizam a afirmar e não podemos concluir daí que é impossível o Sol não nascer amanhã. Ao fazê-lo estaríamos a ir além do que nos é dado pelos sentidos. Os sentidos também não nos permitem formular juízos universais, mas apenas particulares. Ainda que um aluno só tenha tido até agora professores de filosofia excêntricos, ele não pode, mesmo assim, afirmar que todos os professores de filosofia são excêntricos. Nem a mais completa colecção de casos idênticos observados nos permite tirar alguma conclusão que possa tomar-se como universal e necessária. O facto de termos visto muitas folhas cair em nada nos autoriza a concluir que todas as folhas caem necessariamente, assim como o termos visto o Sol nascer muitas vezes não nos garante que ele nasça no dia seguinte, pois isso não constitui um facto empírico. Mas não é precisamente isso que fazemos quando raciocinamos por indução? E as leis científicas não se apoiam nesse tipo de raciocínio ou inferência? Logo, se algo de errado se passa com a indução, algo de errado se passa com a ciência.
Mas se as coisas na natureza sempre aconteceram de uma determinada maneira (se o Sol tem nascido todos os dias), não será de esperar que aconteçam do mesmo modo no futuro (que o Sol nasça amanhã)? Para Hume só é possível defender tal coisa se introduzirmos uma premissa adicional, isto é, se admitirmos que a natureza se comporta de maneira uniforme. A crença de que a natureza funciona sempre da mesma maneira é conhecida como o «princípio da uniformidade da natureza». Mas, interroga-se Hume, em que se fundamenta por sua vez o princípio da uniformidade da natureza? A resposta é que tal princípio se apoia na observação repetida dos mesmos fenómenos, o que nos leva a acreditar que a natureza se irá comportar amanhã como se comportou hoje, ontem e em todos os dias anteriores. Mas assim estamos a cair num raciocínio circular que é o seguinte: a indução só pode funcionar se tivermos antes estabelecido o princípio da uniformidade da natureza; mas estabelecemos o princípio da uniformidade da natureza por meio do raciocínio indutivo.
Por que razão insistimos, então, em fazer induções? A razão ou melhor, o motivo é inesperadamente simples: porque somos impelidos pelo hábito de observarmos muitas vezes a mesma coisa acontecer. Ora, isso não é do domínio lógico, mas antes do psicológico.
O que Hume fez foi uma crítica da lógica da indução. Esta apoia-se mais na crença do que na lógica do raciocínio. O mesmo tipo de crítica levou também Hume a questionar a relação de causa-efeito entre diferentes fenómenos. Como tal, para Hume, o conhecimento científico, enquanto conhecimento que produz verdades universais e necessárias, não é logicamente possível, assumindo, por isso, uma posição céptica.
Seria o cepticismo de Hume que iria levar Kant (1724-1804) a tentar encontrar uma resposta para tal problema.
Depois de uma crítica completa, na sua obra Crítica da Razão Pura, à forma como, em nós, se constituía o conhecimento, Kant concluiu que aquilo que conferia necessidade e universalidade ao conhecimento residia no próprio sujeito que conhece. Para Kant, o entendimento humano não se limitava a receber o que os sentidos captavam do exterior; ele era activo e continha em si as formas a priori ¾ que não dependem da experiência ¾ às quais todos os dados empíricos se teriam que submeter.
Era, pois, nessas formas a priori do entendimento que se devia encontrar a necessidade e universalidade do conhecimento:
Necessitamos agora de um critério pelo qual possamos distinguir seguramente um conhecimento puro de um conhecimento empírico. É verdade que a experiência nos ensina que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas não que não possa sê-lo diferentemente. Em primeiro lugar, se encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar como necessária, estamos em presença de um juízo a priori (...). Em segundo lugar, a experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, apenas universalidade suposta e comparativa (por indução), de tal modo que, em verdade, antes se deveria dizer: tanto quanto até agora nos foi dado verificar, não se encontram excepções a esta ou àquela regra. Portanto, se um juízo é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo que nenhuma excepção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é absolutamente válido a priori. (...)
(...) Pois onde iria a própria experiência buscar a certeza se todas as regras, segundo as quais progride, fossem continuamente empíricas e, portanto, contingentes?
Kant, Crítica da Razão Pura
Verificando que os conhecimentos científicos se referiam a factos observáveis, mas que se apresentavam de uma forma universal e necessária, Kant caracterizou as verdades científicas como juízos sintéticos a priori. Sintéticos porque não dependiam unicamente da análise de conceitos; a priori porque se fundamentavam, não na experiência empírica, mas nas formas a priori do entendimento, as quais lhes conferiam necessidade e universalidade.
Restava, para este filósofo, uma questão: saber se a metafísica poderia ser considerada uma ciência. Mas a resposta foi negativa porque, em metafísica, não era possível formular juízos sintéticos a priori. As questões metafísicas ¾ a existência de Deus e a imortalidade da alma ¾ caíam fora do âmbito da ciência, ao contrário da ciência medieval em que o estatuto de cada ciência dependia, sobretudo, da dignidade do seu objecto, sendo a teologia e a metafísica as mais importantes das ciências.
A «solução» de Kant dificilmente é satisfatória. Ao explicar o carácter necessário e universal das leis científicas, Kant tornou-as inter-subjectivas: algo que resulta da nossa capacidade de conhecer e não do mundo em si. Quando um cientista afirma que nenhum objecto pode viajar mais depressa do que a luz, está para Kant a formular uma proposição necessária e universal, mas que se refere não à natureza íntima do mundo, mas antes ao modo como nós, seres humanos, conhecemos o mundo. Estavam abertas as portas ao idealismo alemão, que teria efeitos terríveis na história da filosofia. Nos anos 70 do século XX, o filósofo americano Saul Kripke (1940- ) iria apresentar uma solução parcial ao problema levantado por Hume que é muito mais satisfatória do que a de Kant. Kripke mostrou, efectivamente, como podemos inferir conclusões necessárias a partir de premissas empíricas, de modo que a necessidade das leis científicas não deriva do seu carácter sintético a priori, como Kant dizia, mas antes do seu carácter necessário a posteriori.
4. O positivismo do século xix
Comte
No século XIX, o ritmo do desenvolvimento científico e tecnológico cresceu imenso. Em consequência disso, a vida das pessoas sofreu alterações substanciais. Era a ciência que dava origem a novas invenções, as quais impulsionavam uma série de transformações na sociedade. Com efeito, estabeleceu-se uma relação entre os seres humanos e a ciência, de tal maneira que esta passou a fazer parte das suas próprias vidas.
Apareceram muitas outras ciências ao longo do século XIX, onde se contavam, por exemplo, a psicologia. O clima era de confiança em relação à ciência, na medida em que ela explicava e solucionava cada vez mais problemas. A física era o exemplo de uma ciência que apresentava imensos resultados e que nos ajudava a compreender o mundo como nunca antes tinha sido possível. A religião ia, assim, perdendo terreno no domínio do conhecimento e até a própria filosofia era frequentemente acusada de se perder em estéreis discussões metafísicas. A ciência não tinha, pois, rival.
É neste contexto que surge uma nova filosofia, apresentada no livro Curso de Filosofia Positiva, com o francês Auguste Comte (1798-1857): o positivismo.
O positivismo considera a ciência como o estado de desenvolvimento do conhecimento humano que superou, quer o estado das primitivas concepções mítico-religiosas, as quais apelavam à intervenção de seres sobrenaturais, quer o da substituição desses seres por forças abstractas. Comte pensa mesmo ter descoberto uma lei fundamental acerca do desenvolvimento do conhecimento, seja em que domínio for. Essa lei é a de que as nossas principais concepções passam sempre por três estados sucessivos: «o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstracto e o estado científico ou positivo». A cada estado corresponde um método de filosofar próprio. Trata-se, respectivamente, do método teológico, do método metafísico e do método positivo. Assim, a ciência corresponde ao estado positivo do conhecimento, que é, para Comte, o seu estado definitivo:
Estudando assim o desenvolvimento total da inteligência humana nas suas diversas esferas de actividade, desde o seu primeiro e mais simples desenvolvimento até aos nossos dias, penso ter descoberto uma grande lei fundamental, à qual ele se encontra submetido por uma necessidade invariável, e que me parece poder estabelecer-se solidamente, quer pelas provas racionais que o conhecimento da nossa organização nos fornece, quer pelas verificações históricas que resultam de um atento exame do passado. Esta lei consiste em que cada uma das nossas principais concepções, cada ramo dos nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados teóricos diferentes: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstracto, o estado científico ou positivo. Noutros termos, o espírito humano, dada a sua natureza, emprega sucessivamente, em cada uma das suas pesquisas, três métodos de filosofar, de características essencialmente diferentes e mesmo radicalmente opostos: primeiro o método teológico, depois o método metafísico e, por fim, o método positivo. Donde decorre a existência de três tipos de filosofia ou de sistemas gerais de concepções sobre o conjunto dos fenómenos que mutuamente se excluem: a primeira é o ponto de partida necessário da inteligência humana; a terceira o seu estado fixo e definitivo; a segunda destina-se unicamente a servir de transição.
Comte, Curso de Filosofia Positiva
Comte prossegue, caracterizando cada um dos estados, de modo a concluir que os primeiros dois estados foram necessários apenas como degraus para chegar ao seu estado perfeito, o estado positivo:
No estado teológico, o espírito humano, dirigindo essencialmente as suas pesquisas para a natureza íntima dos seres, as causas primeiras e finais de todos os fenómenos que o atingem, numa palavra, para os conhecimentos absolutos, concebe os fenómenos como produzidos pela acção directa e contínua de agentes sobrenaturais mais ou menos numerosos, cuja arbitrária intervenção explicaria todas as aparentes anomalias do universo.
No estado metafísico, que no fundo não é mais que uma modificação geral do primeiro, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstractas, verdadeiras entidades (abstracções personificadas) inerentes aos diversos seres do mundo, e concebidas como capazes de engendrar por si mesmas todos os fenómenos observados, cuja explicação consiste então em referir para cada um a entidade correspondente.
Por último, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo e a conhecer as causas íntimas dos fenómenos, para se dedicar apenas à descoberta, pelo uso bem combinado do raciocínio e da observação, das suas leis efectivas, isto é, das suas relações invariáveis de sucessão e similitude. A explicação dos factos, reduzida então aos seus termos reais, não é mais, a partir daqui, do que a ligação que se estabelece entre os diversos fenómenos particulares e alguns factos gerais cujo número tende, com os progressos da ciência, a diminuir cada vez mais. (...)
Assim se vê, por este conjunto de considerações, que, se a filosofia positiva é o verdadeiro estado definitivo da inteligência humana, aquele para o qual ela sempre, e cada vez mais, tendeu, nem por isso ela deixou de utilizar necessariamente, no começo e durante muitos séculos, a filosofia teológica, quer como método, quer como doutrina provisórios; filosofia cujo carácter é ela ser espontânea e, por isso mesmo, a única que era possível no princípio, assim como a única que podia satisfazer os interesses do nosso espírito nos seus primeiros tempos. É agora muito fácil ver que, para passar desta filosofia provisória à filosofia definitiva, o espírito humano teve, naturalmente, que adoptar, como filosofia transitória, os métodos e as doutrinas metafísicas. Esta última consideração é indispensável para completar a visão geral da grande lei que indiquei.
Com efeito, concebe-se facilmente que o nosso entendimento, obrigado a percorrer degraus quase insensíveis, não podia passar bruscamente, e sem intermediários, da filosofia teológica para a filosofia positiva. A teologia e a física são profundamente incompatíveis, as suas concepções têm características tão radicalmente opostas que, antes de renunciar a umas para utilizar exclusivamente as outras, a inteligência humana teve de se servir de concepções intermédias, de características mistas, e por isso mesmo próprias para realizar, gradualmente, a transição. É este o destino natural das concepções metafísicas que não têm outra utilidade real.»
Comte, Curso de Filosofia Positiva
O pensamento de Comte, mais do que uma filosofia original, era uma filosofia que captou um certo espírito do século XIX e lhe deu uma espécie de justificação. Este tipo de espírito positivista viria a conhecer uma reacção extrema, anti-positivista: o romantismo e o irracionalismo, que acabariam por dar o perfil definitivo à filosofia do continente europeu do século XX. Ao passo que o positivismo exaltava a ciência, o romantismo e o irracionalismo deploravam a ciência. Ambas as ideias parecem falsas e exageradas. As ideias de Comte são vagas e os argumentos que ele usa para as sustentar são pouco mais do que sugestões. A própria ideia de ciência que Comte apresenta está errada; não é verdade que a ciência tenha renunciado a explicar as causas mais profundas dos fenómenos, nem é verdade que na história do pensamento tenhamos assistido a uma passagem de uma fase mais abstracta para uma fase mais concreta ou positiva. Pelo contrário, a ciência apresenta um grau de abstracção cada vez maior, e a própria filosofia, com as suas teorias e argumentos extremamente abstractos, conheceu no século XX um desenvolvimento como nunca antes tinha acontecido.
O positivismo defende que só a ciência pode satisfazer a nossa necessidade de conhecimento, visto que só ela parte dos factos e aos factos se submete para confirmar as suas verdades, tornando possível a obtenção de «noções absolutas».
Do que dissemos decorre que o traço fundamental da filosofia positiva é considerar todos os fenómenos como sujeitos a leis naturais invariáveis, sendo o fim de todos os nossos esforços a sua descoberta precisa e a sua redução ao menor número possível, e considerando como absolutamente inacessível e vazio de sentido a procura daquilo a que se chama as causas, sejam primeiras ou finais. É inútil insistir muito num princípio que se tornou tão familiar a todos os que estudaram, com alguma profundidade, as ciências de observação. Com efeito, todos nós sabemos que, nas nossas explicações positivas, mesmo nas mais perfeitas, não temos a pretensão de expor as causas geradoras dos fenómenos, dado que nesse caso não faríamos senão adiar a dificuldade, mas apenas de analisar com exactidão as circunstâncias da sua produção e de as ligar umas às outras por normais relações de sucessão e similitude. (...)
Comte, Curso de Filosofia Positiva
O pressuposto fundamental é, pois, o de que há uma regularidade no funcionamento da natureza, cabendo ao homem descobrir com exactidão as «leis naturais invariáveis» a que todos os fenómenos estão submetidos. Essas leis devem traduzir com todo o rigor as condições em que determinados factos são produzidos. Para isso tem de se partir da observação dos próprios factos e das relações que entre eles se estabelecem de modo a chegar a resultados universais e objectivos. Qualquer facto observado é o resultado necessário de causas bem precisas que é importante investigar. Até porque as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, não havendo na natureza lugar para a fantasia e o improviso, tal como, de resto, acontece com uma máquina que se comporta sempre como previsto. A isto se chama determinismo. O determinismo é, então, uma consequência do mecanicismo moderno e teve inúmeros defensores, entre os quais se tornou famoso Laplace (1749-1827). Escreve ele:
Devemos considerar o estado presente do universo como um efeito do seu estado anterior e como causa daquele que se há-de seguir. Uma inteligência que pudesse compreender todas as forças que animam a natureza e a situação respectiva dos seres que a compõem ¾ uma inteligência suficientemente vasta para submeter todos esses dados a uma análise ¾ englobaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do mais pequeno átomo; para ela, nada seria incerto e o futuro, tal como o passado, seriam presente aos seus olhos.
LAPLACE, Ensaio Filosófico sobre as Probabilidades
Com efeito, a natureza ainda apresenta muitos mistérios, mas apenas porque não temos a capacidade de conhecer integralmente as circunstâncias que a cada momento se conjugam para o desencadear de todos os fenómenos observados. É, contudo, possível prever muitos deles.
Esta é uma perspectiva que, no fundo, acaba por desenvolver e sistematizar em termos teóricos a concepção mecanicista própria da ciência moderna. Concepção essa que, por sua vez, assenta numa determinada filosofia acerca da natureza do conhecimento: o realismo crítico. Realismo porque defende a existência de uma realidade objectiva exterior ao sujeito, e crítico porque nem tudo o que é percepcionado nos fenómenos naturais tem valor objectivo. É por isso que o cientista precisa de um método de investigação que lhe permita eliminar todos os aspectos subjectivos acerca dos fenómenos estudados e encontrar, por entre as aparências, as propriedades verdadeiramente objectivas. Tal método continua a ser o método experimental.
Os grandes princípios nos quais se apoiava a ciência pareciam, então, definitivamente assentes. As discussões sobre o estatuto ou os fundamentos do conhecimento científico consideravam-se arrumadas e a linguagem utilizada, a matemática, estava também ela assente em princípios sólidos. Restava prosseguir com cada vez mais descobertas, de modo a acrescentar ao que já se sabia novos conhecimentos.
Que a ciência desse respostas definitivas às nossas perguntas, de modo a ampliar cada vez mais o conhecimento humano, e que tal conhecimento pudesse ser aplicado na satisfação de necessidades concretas do homem, era o que cada vez mais pessoas esperavam. Assim, a ciência foi conquistando cada vez mais adeptos, tornando-se objecto de uma confiança ilimitada. Isto é, surge um verdadeiro culto da ciência, o cientismo. O cientismo é, pois, a ciência transformada em ideologia. Ele assenta, afinal, numa atitude dogmática perante a ciência, esperando que esta consiga responder a todas as perguntas e resolver todos os nossos problemas. Em grande medida, o cientismo resulta de uma compreensão errada da própria ciência. A ciência não é a caricatura que Comte apresentou e que o cientismo de alguma forma adoptou.
O sucessor moderno do mecanicismo, como vimos, é o fisicalismo. A ideia geral é a de que podemos reduzir todos os fenómenos a fenómenos físicos. Hoje em dia, uma parte substancial da investigação em filosofia e em algumas ciências, procura reduzir fenómenos que à primeira vista não parecem susceptíveis de serem reduzidos: é o caso, por exemplo, dos fenómenos mentais (de que se ocupa a filosofia da mente e as ciências cognitivas) e dos fenómenos semânticos (de que se ocupa a filosofia da linguagem e a linguística). Esta ideia não é nova; já Comte tinha apresentado uma classificação das ciências em que, de maneiras diferentes, todas as ciências acabavam por se reduzir à física. Até à mais recente das ciências, a sociologia, Comte dava o nome de física social. Havia, assim, a física celeste, a física terrestre, a física orgânica e a física social nas quais se incluíam as cinco grandes categorias de fenómenos, os fenómenos astronómicos, físicos, químicos, fisiológicos e sociais.
Assim, é preciso começar por considerar que os diferentes ramos dos nossos conhecimentos não puderam percorrer com igual velocidade as três grandes fases do seu desenvolvimento atrás referidas nem, portanto, chegar simultaneamente ao estado positivo. (...)
É impossível determinar com rigor a origem desta revolução (...). Contudo, dado que é conveniente fixar uma época para impedir a divagação de ideias, indicarei a do grande movimento imprimido há dois séculos ao espírito humano pela acção combinada dos preceitos de Bacon, das concepções de Descartes e das descobertas de Galileu, como o momento em que o espírito da filosofia positiva começou a pronunciar-se no mundo, em clara oposição aos espíritos teológico e metafísico. (...)
Eis então a grande mas evidentemente única lacuna que é preciso colmatar para se concluir a constituição da filosofia positiva. Agora que o espírito humano fundou a física celeste, a física terrestre quer mecânica quer química , a física orgânica quer vegetal quer animal , falta-lhe terminar o sistema das ciências de observação fundando a física social. (...)
Uma vez preenchida esta condição, encontrar-se-á finalmente fundado, no seu conjunto, o sistema filosófico dos modernos, pois todos os fenómenos observáveis integrarão uma das cinco grandes categorias desde então estabelecidas: fenómenos astronómicos, físicos, químicos, fisiológicos e sociais. Tornando-se homogéneas todas as nossas concepções fundamentais, a filosofia constituir-se-á definitivamente no estado positivo; não podendo nunca mudar de carácter, resta-lhe desenvolver-se indefinidamente através das aquisições sempre crescentes que inevitavelmente resultarão de novas observações ou de meditações mais profundas. (...)
Com efeito, completando enfim, com a fundação da física social, o sistema das ciências naturais, torna-se possível, e mesmo necessário, resumir os diversos conhecimentos adquiridos, então chegados a um estado fixo e homogéneo, para os coordenar, apresentando-os como outros tantos ramos de um único tronco, em vez de continuar a concebê-los apenas como outros tantos corpos isolados.»
Comte, Curso de Filosofia Positiva
Mas não é com classificações vagas que se conseguem realmente reduzir as ciências à física esta é a forma errada de colocar o problema. Trata-se, antes, de mostrar que os fenómenos estudados pela química ou pela sociologia ou pela psicologia são, no fundo, fenómenos físicos. Mas isto é um projecto que, apesar de alimentar hoje em dia grande parte da investigação científica e filosófica, está longe de ter alcançado bons resultados. E alguns filósofos contemporâneos duvidam que tal reducionismo seja possível.
A distinção entre ciências da natureza e ciências sociais ou humanas tornou-se, progressivamente, mais importante. Apesar dos devaneios de Comte, não era fácil ver como se poderiam reduzir os fenómenos sociais, por exemplo, a fenómenos físicos. A reacção contrária a Comte resultou em doutrinas que traçam uma distinção entre os dois tipos de ciências, alegando que os fenómenos sociais não podem ser reduzidos a fenómenos físicos. Dilthey (1833-1911) dividia as ciências em ciências do homem, ou do espírito, entre as quais se encontravam a história, a psicologia, etc., e as ciências da natureza, como a física, a química, a biologia, etc. Aquelas tinham como finalidade compreender os fenómenos que lhes diziam respeito, enquanto que estas procuravam explicar os seus. Esta forma de encarar a diferença entre as ciências humanas e as ciências da natureza é de algum modo simplista. Mas os grandes filósofos das ciências sociais actuais, como Alan Ryan e outros, procuram ainda encontrar modelos de explicação satisfatórios para as ciências humanas. Apesar de admitirem que o tipo de explicação das ciências da natureza é diferente do tipo de explicação das ciências humanas, o verdadeiro problema é saber que tipo de explicação é a explicação fornecido pelas ciências humanas.
As ciências da natureza e as ciências formais do século XIX e XX conheceram desenvolvimentos sem precedentes. Mas porque o espírito científico é um espírito crítico e não dogmático, apesar do enorme desenvolvimento alcançado pela ciência no século XIX, os cientistas continuavam a procurar responder a mais e mais perguntas, perguntas cada vez mais gerais, fundamentais e exactas. E a resposta a essas perguntas conduziu a desenvolvimentos científicos que mostraram os limites de algumas leis e princípios antes tomados como verdadeiros. A geometria, durante séculos considerada uma ciência acabada e perfeita, foi revista. Apesar de a geometria euclidiana ser a geometria correcta para descrever o espaço não curvo, levantou-se a questão de saber se não poderíamos construir outras geometrias, que dessem conta das relações geométricas em espaços não curvos: nasciam as geometrias não euclidianas. A existência de geometrias não euclidianas conduz à questão de saber se o nosso universo será euclidiano ou não. E a teoria da relatividade mostra que o espaço é afinal curvo e não plano, como antes se pensava.
O desenvolvimento alucinante das ciências dos séculos XIX e XX, juntamente com o cientismo provinciano defendido por Comte, conduziu ao clima anti-científico que caracteriza algumas correntes da filosofia do final do século XX. Mas isso fica para depois.
Aires Almeida
Nota
Agradeço a Desidério Murcho a revisão do texto, assim como as variadíssimas imprecisões que me ajudou a eliminar. Sem ele, este texto seria muito diferente.
Crítica | Filosofia | Leitura | Música |
|
|  |
 |
 |  |
|
 |
Intelectu no 6 - Dezembro de 2001 Com o apoio da Socie dade Portuguesa de Filosofia dade Portuguesa de Filosofia | |
|
|
 |
 |
|
 |
- nº 1 - Fevereiro de 1999
Etimologia do Disparate, Desidério Murcho
O que significa ser um céptico?, Sara Bizarro
Utilitarismo Moral & Político, Sara Bizarro
Dennett e a IA, Sofia Miguens
A mente de Chomsky, Sofia Miguens
Em Solipse, Pedro Galvão (Ficção)
Thomas Nagel, A Última Palavra Sara Bizarro
Imre Lakatos, História da Ciência, Pedro Galvão
Navalha de Ockahm, Sara Bizarro (Glossário)
Modo de Apresentação, Sara Bizarro (Glossário)
- nº 2 - Agosto de 1999
Disputas acerca da Arte, Célia Teixeira
O Fim da Arte, Paula Mateus
Que sentido pode existir na ausência de valores de verdade? Teresa Marques
A Angústia da Paternidade, Sara Bizarro
Jonathan Dancy, Reading Parfit Sofia Miguens
Sokal e Bricmont, Imposturas Intelectuais, Sara Bizarro
Peter Singer, Ética Prática Gradiva, Outubro de 1999. (Pré-Publicação)
- nº 3 - Fevereiro 2000
Inteligência Artificial, Luís Moniz Pereira
Inteligência Artificial e Filosofia Mente, Sara Bizarro
Alguns Problemas de Filosofia da IA, Sofia Miguens
Classicism versus Connectionism, Isabel Góis
Uma Introdução ao Necessário a posteriori, Desidério Murcho
Acerca da tese Kripkeana do Necessário a posteriori, Maria Bouça
Peter Singer, How are we to Live? Desidério Murcho
Karl Popper, O Mito do Contexto, Pedro Galvão
- nº 4 - Setembro 2000
A Fé, Julio Sameiro
Critérios de Experiência, Sofia Miguens
O que é a Filosofia?, Desidério Murcho
Monismo Anómalo, Célia Teixeira
A Lógica de Quine, Romina Carneiro
Relativismo ou Objectivismo, Célia Teixeira
Ethics into Action, Peter Singer, Desidério Murcho
Vertigo e Psycho, Sara Bizarro
Hemrock, Pedro Fonseca
- nº 5 - Fevereiro 2001
Inteligência Artificial - Mito e Ciência, Luís Moniz Pereira
Conversando Sobre a Inteligência Artificial, Entrevista a Luís Moniz Pereira
O Atomismo Lógico e a Função Referêncial da Linguagem, Adriana Graça
Espace politique et démocratie, Roberto Merrill
Rationalité politique chez Habermas et Rancière, Roberto Merrill
A Realidade do Futuro em J.W. Dunne, José Manuel Curado (Nota de Leitura)
O Sentido da Vida, Moriz Schlick, trad. Pedro Galvão
O Sentido da Vida, Desidério Murcho
Sad, Sad Life, Pedro Fonseca | |

 |
Intel ectu no 6 - Dezembro de 2001 Com o apoio da Sociedade Portuguesa de Filosofia ectu no 6 - Dezembro de 2001 Com o apoio da Sociedade Portuguesa de Filosofia | |
|
|
 |
 |
|
 |
- nº 1 - Fevereiro de 1999
Etimologia do Disparate, Desidério Murcho
O que significa ser um céptico?, Sara Bizarro
Utilitarismo Moral & Político, Sara Bizarro
Dennett e a IA, Sofia Miguens
A mente de Chomsky, Sofia Miguens
Em Solipse, Pedro Galvão (Ficção)
Thomas Nagel, A Última Palavra Sara Bizarro
Imre Lakatos, História da Ciência, Pedro Galvão
Navalha de Ockahm, Sara Bizarro (Glossário)
Modo de Apresentação, Sara Bizarro (Glossário)
- nº 2 - Agosto de 1999
Disputas acerca da Arte, Célia Teixeira
O Fim da Arte, Paula Mateus
Que sentido pode existir na ausência de valores de verdade? Teresa Marques
A Angústia da Paternidade, Sara Bizarro
Jonathan Dancy, Reading Parfit Sofia Miguens
Sokal e Bricmont, Imposturas Intelectuais, Sara Bizarro
Peter Singer, Ética Prática Gradiva, Outubro de 1999. (Pré-Publicação)
- nº 3 - Fevereiro 2000
Inteligência Artificial, Luís Moniz Pereira
Inteligência Artificial e Filosofia Mente, Sara Bizarro
Alguns Problemas de Filosofia da IA, Sofia Miguens
Classicism versus Connectionism, Isabel Góis
Uma Introdução ao Necessário a posteriori, Desidério Murcho
Acerca da tese Kripkeana do Necessário a posteriori, Maria Bouça
Peter Singer, How are we to Live? Desidério Murcho
Karl Popper, O Mito do Contexto, Pedro Galvão
A Fé, Julio Sameiro
Critérios de Experiência, Sofia Miguens
O que é a Filosofia?, Desidério Murcho
Monismo Anómalo, Célia Teixeira
A Lógica de Quine, Romina Carneiro
Relativismo ou Objectivismo, Célia Teixeira
Ethics into Action, Peter Singer, Desidério Murcho
Vertigo e Psycho, Sara Bizarro
Hemrock, Pedro Fonseca
- nº 5 - Fevereiro 2001
Inteligência Artificial - Mito e Ciência, Luís Moniz Pereira
Conversando Sobre a Inteligência Artificial, Entrevista a Luís Moniz Pereira
O Atomismo Lógico e a Função Referêncial da Linguagem, Adriana Graça
Espace politique et démocratie, Roberto Merrill
Rationalité politique chez Habermas et Rancière, Roberto Merrill
A Realidade do Futuro em J.W. Dunne, José Manuel Curado (Nota de Leitura)
O Sentido da Vida, Moriz Schlick, trad. Pedro Galvão
O Sentido da Vida, Desidério Murcho
Sad, Sad Life, Pedro Fonseca | |
 Central de filosofia e cultura Central de filosofia e cultura |
| Filosofia da Religião |
Filosofia |
Leitura |
Música |
|
O mal de Quintas
Desidério Murcho
Neste artigo apresento duas objecções ao artigo "O Problema do Mal", de Jaime Quintas, publicado na "Crítica". A primeira, mais forte, procura mostrar que o argumento de Quintas é incoerente. A segunda, mais fraca, procura mostrar que o argumento de Quintas se baseia numa concepção deficiente de "impossibilidade" concepção que, uma vez corrigida, derrota o argumento original.
A incoerência
O argumento de Quintas é o seguinte: não podemos declarar que é possível haver menos mal no mundo, pois seja qual for a quantidade de mal existente num mundo, os seus habitantes pensarão sempre que é excessivo. Quintas apresenta um conjunto de argumentos para sustentar a premissa deste argumento. Não vou contestar esses argumentos, apesar de pensar que também podem ser contestados. O contra-argumento que apresento derrota a meu ver totalmente o argumento original.
O contra-argumento é o seguinte: se fosse verdade que fosse qual fosse a quantidade de mal que existisse num mundo, os seus habitantes pensariam sempre que essa quantidade era excessiva, então não poderíamos saber se o argumento apresentado é sólido; logo, o argumento apresentado não pode ser sólido. A ideia é a seguinte: o tipo de argumento que Quintas usa pressupõe, para funcionar, o tipo de "clausura epistémica" que torna impossível que qualquer argumento possa ser bom. Porque se estamos numa situação de clausura em relação ao sofrimento máximo possível, nenhum argumento poderá estabelecer que estamos nessa situação de clausura. Se eu não posso olhar-me a partir de fora para saber se o meu sofrimento poderia ser maior, também não posso olhar-me a partir de fora para saber que o meu conhecimento acerca do meu sofrimento está enclausurado.
O âmago do argumento original é procurar mostrar que os seres humanos se encontram como que numa "clausura epistémica". Poderão dizer "Há demasiado mal no mundo do nosso ponto de vista", mas nunca poderão dizer "Há objectivamente demasiado mal no mundo". Este argumento é peculiar, porque nos convida a aceitar as seguintes duas afirmações:
- Quando pensamos que há demasiado mal no mundo, estamos apenas a dar voz ao nosso ponto de vista, estamos a ser vítimas da nossa clausura epistémica.
- Quando pensamos que a afirmação 1 é verdadeira, não estamos a ser vítimas da nossa clausura epistémica.
Estas duas afirmações são dificilmente conciliáveis. Antes de vermos isso, vejamos por que motivo Quintas tem de aceitar 2. A razão é a seguinte: se aceitar que estamos apenas a dar voz à nossa subjectividade quando pensamos que 1 é verdadeira, então 1 não é realmente verdadeira. Apenas parece verdadeira do nosso ponto de vista. Talvez de outro ponto de vista qualquer 1 pareça falsa. Mas se nos ficarmos por aqui, pouco mais adiantámos do que dizer, pura e simplesmente, que há pessoas que acham que a existência do mal é incompatível com o deus teísta, ao passo que outras pessoas pensam que não. Neste caso, uma montanha de argumentação subtil teria parido um rato sob a forma de conclusão.
Mas se Quintas aceitar 2, tem de nos mostrar por que razão peculiar conseguimos alcançar o domínio da objectividade para saber que quer o argumento que conduz a 1 é sólido, objectivamente sólido, quer a afirmação 1 é verdadeira, objectivamente verdadeira ao mesmo tempo que não conseguimos alcançar o domínio da objectividade quando tentamos saber se há demasiado mal no mundo.
Repare-se que ao dizer que a quantidade de mal é subjectiva não se está a dizer que não podemos determinar qual a quantidade de mal existente. Podemos, claro. O que não podemos é comparar essa quantidade com qualquer escala absoluta. E como tal não podemos nunca saber se o sofrimento que existe é incompatível com Deus -- pois pode muito bem acontecer que, comparando com a escala absoluta, o nosso sofrimento seja ínfimo. O ponto do argumento é mostrar que o nosso sofrimento é incomparável com qualquer escala absoluta; só pode comparar-se com o nosso próprio sofrimento. Posso saber que partir uma perna é pior do que esfolar um joelho; mas na ordem geral das coisas não posso saber quão próximo do sofrimento absoluto estamos. Do nosso ponto de vista, qualquer que fosse o sofrimento máximo de que tivéssemos experiência, isso pareceria ser sempre o máximo de sofrimento possível.
Mas isto quer dizer que o argumento propõe que não podemos saber se objectivamente há demasiado mal no mundo, ao mesmo tempo que propõe que podemos saber objectivamente que isso é verdade. Penso que isto revela a incoerência original do argumento.
A relatividade do sofrimento
Todavia, a ideia original é pelo menos superficialmente plausível. Afinal, o sofrimento é relativo. Para algumas pessoas arrancar um molar é uma pequena tragédia, para outras é mais um acontecimento anónimo da sua história clínica. É razoável, pois, pensar que o sofrimento é relativo às pessoas.
Por analogia, podemos pensar assim: um mundo onde acontecem fomes e holocaustos e terramotos e cancros, essas coisas parecem-nos um sofrimento terrível. Mas um mundo onde nada disso houvesse, partir uma perna pareceria horrível para as pessoas desse mundo; tão horrível como nos parece a nós o holocausto.
Mas há aqui uma confusão. Mesmo que admitamos que o sofrimento é relativo às pessoas, não se segue que sejamos incapazes de determinar os limites máximos de sofrimento biologicamente possíveis. Afinal, também a perspectiva de onde vemos o cosmos é relativa ao local onde nos encontramos a Terra mas daí não se segue que não sejamos capazes de determinar os movimentos objectivos dos planetas, de qualquer ponto de vista. Portanto, mesmo que admitamos que o sofrimento é relativo, não se segue que estamos condenados a pensar que qualquer quantidade de sofrimento é sempre excessiva. Isso só seria verdade se fossemos incapazes de comparar a quantidade de sofrimento que efectivamente existe, com a quantidade máxima e mínima de sofrimento que seria possível. Mas não podemos ser incapazes de fazer tal comparação porque nesse caso o argumento original seria incoerente, como vimos. Logo, não estamos condenados a pensar que a quantidade de sofrimento é sempre excessiva.
Por outras palavras: quer na situação real, com holocaustos e terramotos, quer noutra situação sem nada dessas coisas, somos capazes de determinar que tipo de coisas são biologicamente possíveis suportar, sem morrer, em extremo sofrimento. E mesmo os biólogos do mundo onde a tragédia maior era partir uma perna poderiam ver que eram afortunados; poderiam ver que grande parte do sofrimento possível não acontecia no mundo deles.
Isto conclui a apresentação do primeiro contra-argumento.
A possibilidade natural
O segundo contra-argumento refere-se ao modo como Quintas usa a noção de possibilidade. O argumento original procura estabelecer que não é possível que exista um mundo cujo mal os seus habitantes não considerem exagerado face à existência hipotética de Deus. Mas que noção de possibilidade é invocada?
O argumento fala em "impossibilidade lógica". E a ideia seria a seguinte: seja qual for o máximo de sofrimento que existe num mundo, isso é o grau máximo de sofrimento possível. Por exemplo, se o sofrimento máximo que existe num mundo é, numa escala qualquer, 100, então é logicamente impossível que houvesse mais sofrimento. Mas se por acaso nesse mundo só houvesse no máximo sofrimento de escala 10, então seria logicamente impossível haver mais. E portanto, seja qual for o grau de sofrimento máximo de um mundo, esse grau é sempre máximo. O sofrimento existente parecerá sempre, por isso, incompatível com a existência de Deus, porque parece sempre possível que tivesse havido menos sofrimento.
A falácia do argumento está no raciocínio modal. Compare-se com o seguinte argumento modal: é logicamente impossível que haja mais de 100 pessoas no mundo. Porque seja qual for o número de pessoas que há nesse mundo, se só há 100, e se 100 é o máximo de pessoas que há, não pode haver mais porque por definição esse é o número máximo de pessoas que há. Se pelo contrário só houver 10 pessoas nesse mundo, isso será o máximo de pessoas possível, porque por definição esse é o máximo de pessoas que há nesse mundo.
Este argumento é falacioso, tal como o argumento original. E também não é verdade que as pessoas do mundo só com 10 pessoas são incapazes de conceber que podería haver muito mais pessoas nesse mundo. Tal como as pessoas do mundo afortunado em que o grau máximo de sofrimento é 10 podem perfeitamente perceber que são afortunados, porque poderiam ter de suportar o grau 100.
Temos de entender o argumento original, em termos de impossibilidade lógica, como uma liberdade de linguagem, ou como "impossibilidade lógica" no sentido lato. No sentido estrito, uma afirmação é logicamente impossível unicamente se podemos estabelecer a sua negação por meios exclusivamente lógicos. Assim, uma afirmação como "O João, se existe, é grego e não é grego" é logicamente impossível no sentido estrito.
A impossibilidade conceptual ou lógica em sentido lato pode ser entendida da seguinte maneira: uma afirmação é impossível neste sentido se, e só se, não puder ser verdadeira à luz de considerações filosóficas ou conceptuais. Esta definição informal está longe de ser boa, mas para os nossos propósitos é suficiente: o único objectivo é ficarmos com uma ideia aproximada do que é este tipo de impossibilidade.
Ora, o argumento original não pode também basear-se numa impossibilidade conceptual, ou lógica em sentido lato. As relações entre as diferentes noções de possibilidade e impossibilidade não são pacíficas; mas é pelo menos evidente que uma afirmação não pode ser ao mesmo tempo conceptualmente impossível (ou logicamente impossível em sentido lato) e naturalmente possível. Isto seria disparatado. Não podemos demonstrar que é conceptualmente impossível ir à Lua, uma vez que é fisicamente possível ir à Lua. E o mesmo acontece com a impossibilidade lógica; não pode ser logicamente impossível ir à Lua, pois isso é fisicamente possível.
Quando nos deparamos com uma hipotética demonstração filosófica desse género, podemos ter a certeza de que resulta de um erro qualquer. Como veremos, isso é o que acontece no argumento em exame, quer consideremos que se está a falar de possibilidade lógica ou conceptual. O ponto crucial é que biologicamente é possível fazer o que o argumento procura mostrar que é logicamente ou conceptualmente impossível fazer. Logo, o argumento está errado.
O argumento procura mostrar que é impossível que exista um mundo que os seus habitantes não considerem ter sofrimento em excesso. Mas esta impossibilidade pretende ser derivada da impossibilidade de determinar a quantidade máxima de sofrimento para uma dada espécie natural. Independentemente de saber se esta derivação pode ser levada a cabo e tenho dúvidas de que possa o ponto crucial é este: a premissa de que parte é falsa. Não é verdade que seja impossível determinar a quantidade máxima de sofrimento de uma dada espécie natural, incluindo a nossa. A quantidade máxima de sofrimento é determinada pela nossa melhor ciência e até por experiência. Sabemos que podemos passar uns dias sem comer nem beber água, por muito sofrimento que isso nos provoque. Mas também sabemos que é biologicamente impossível que um ser humano esteja 6 meses sem beber nem comer. Temos, pois, um conhecimento de limites objectivos de sofrimento; sabemos que certas quantidades de sofrimento são biologicamente impossíveis.
A plausibilidade da ideia original do argumento resulta da seguinte consideração: num mundo onde as pessoas nunca atingissem graus de sofrimento elevado, o que aconteceria? Ou elas morriam quando partiam uma perna, ou quando a coisa se tornava realmente complicada, havia um milagre que resolvia a questão. A segunda parece-me, precisamente, plausível. Se Deus existe e ele é benevolente e se as leis da natureza e do comportamento humano implicam todo este sofrimento, porque não uns milagres de vez em quando, quando as coisas estão realmente complicadas? Quando Hitler se prepara para conduzir a Europa a uma guerra horrível, um ataque de coração teria sido providencial. Mas isso não aconteceu.
Todavia, como podemos ter a certeza que outras coisas ainda piores não teriam acontecido sem a intervenção invisível de Deus? Não podemos, de facto. Mas dados os limites biológicos do sofrimento humano, é evidente que grande parte do sofrimento humano poderia ser evitado por um Deus benevolente. E podemos ver que o grau de sofrimento que temos não é o grau máximo, claro. Hitler poderia ter ganho a guerra; hoje a liberdade provavelmente não existiria na Europa e os judeus teriam sido praticamente exterminados. Mas, precisamente, podemos ver que isso seria pior. E podemos ver que outras situações poderiam ser melhores e bastante mais compatíveis com um Deus benevolente e omnipotente do que a situação actual, em que tudo parece ser o resultado das leis cegas da natureza e do comportamento humano e não o resultado de qualquer arbítrio divino. A menos que seja um Deus com um sentido de humor verdadeiramente infernal.
Assim como há factos quanto à quantidade máxima de sofrimento biologicamente possível, também há factos quanto à quantidade mínima de sofrimento biologicamente possível. Por exemplo, sabemos que para haver predadores, terão de haver herbívoros ou outros animais que terão de ser as suas presas e que terão de sofrer para que os predadores se alimentem. Mas então terá de haver erro em qualquer argumento que mostre que em qualquer situação, por mínimo que seja o sofrimento que exista, iremos pensar que é conceptualmente possível que existisse ainda menos sofrimento; terá de haver erro, porque este argumento afirma que há coisas que serão conceptualmente impossíveis mas biologicamente possíveis. Esse argumento afirma que é conceptualmente impossível determinar o sofrimento mínimo necessário à existência do mundo, mas nós sabemos que tal coisa é biologicamente possível ainda que em traços largos.
Conclusão
O ar de plausibilidade do argumento de Quintas resulta, penso, do seguinte: se pensarmos bem, é difícil imaginar realmente um mundo sem qualquer tipo de sofrimento. Na melhor das hipóteses, temos de morrer porque somos animais. E podemos apresentar um conjunto de argumentos deste género para mostrar que para termos algo que consideramos um bem, temos de arcar com coisas que consideramos um mal. E isso pode dar a ideia de que por detrás desta harmonia fantástica entre o bem que obtemos e o preço que temos de pagar está um Deus benevolente. Mas, pelo contrário, se pensarmos bem verificamos que a hipótese de um Deus benevolente é muito menos plausível do que a hipótese de que não há qualquer Deus e que o bem e o mal que temos resulta unicamente da operação normal das leis da natureza e do comportamento humano. Teríamos indícios da existência de Deus se descobríssemos as inúmeras possibilidades biológicas das tantas doenças possíveis e depois verificássemos com espanto que nunca ninguém tinha tido uma doença mais grave do que uma constipação. Ou se observássemos que os terramotos e as cheias são o resultado inevitável das leis da natureza, mas que por coincidência nunca ninguém tinha morrido num terramoto nem numa cheia. Isso seria motivo para pensar que há Deus. O contrário é motivo para pensar que não há Deus. E esse é o cerne do argumento contra a existência baseado no mal: não que o mal que existe é o máximo possível, pois sabemos que poderia haver mais, mas porque o mal que existe é excessivo sob a hipótese de haver um Deus benevolente que olha por nós. É caso para dizer que se Deus olha, não vê nada, ou se vê, nada quer fazer, ou se quer fazer, nada pode fazer. Mas qualquer destas hipóteses é contrária à concepção teísta de Deus.
Vou resumir as duas objecções, na esperança de ajudar assim o leitor a ver melhor os seus pontos fracos.
Em primeiro lugar, o argumento em exame é incoerente. Conclui que estamos numa situação de clausura epistémica que, a ser um facto, faz implodir o próprio argumento apresentado. Em segundo lugar, o argumento baseia-se na ideia de que é conceptual ou logicamente impossível determinar a quantidade mínima de sofrimento. Mas isto não pode ser verdade, uma vez que é biologicamente possível determinar a quantidade mínima de sofrimento.
A primeira objecção é mais forte, porque mostra que o argumento original é incoerente. E a sua força fortalece a segunda objecção, pois uma das maneiras de lhe resistir é invocar, precisamente, a clausura epistémica, o que nos conduz à primeira objecção. Assim, em conjunto, as objecções apresentadas parecem constituir pelo menos argumentos poderosos a ter em consideração.
Desidério Murcho
Nota
Agradeço a Jaime Quintas os comentários a uma primeira versão deste texto.
Crítica | Filosofia | Leitura | Música |
|
 |
|
 Central de filosofia e cultura Central de filosofia e cultura |
| Editorial |
Filosofia |
Leitura |
Música |
|
A crise nacional
Desidério Murcho
Quero partilhar com o leitor uma ideia que se tem vindo a afirmar no meu espírito. Receio que seja uma ideia desagradável. E por isso, ainda antes de dizer qual é, vou desde já apelar à sua clemência. Afinal, denunciar algo que nos parece errado é o primeiro passo para o corrigirmos. Se alguém me mostrar que eu dou erros de gramática grotescos, agradeço-lhe pois só assim poderei tomar medidas para corrigir esse problema. E se a pessoa está enganada, só tenho de tentar mostrar-lhe que está enganada. Não faz sentido ficar ofendido por ela estar enganada.
A minha ideia é que Portugal vive num estado de crise permanente por causa de uma crise cultural, da qual o sistema de ensino é um dos responsáveis. A essa crise cultural podemos chamar "menoridade intelectual". Vejamos o que é isso.
Comecemos por aqui: um aspecto fundamental do ensino de qualidade é a criatividade. O ensino de qualquer coisa não tem por objectivo único formar repetidores que repetem sem pensar o que lhes for ensinado e que depois aplicam sem pensar durante 40 anos nas suas profissões. Também tem este objectivo, porque nem todas as pessoas são talentosas e criativas, mas este não é o único objectivo. É como no desporto local. O desporto local não tem como único objectivo contribuir para a saúde dos rapazes e raparigas. Esse é um objectivo, mas não é o único. O outro objectivo é descobrir os jovens mais talentosos, que vão passar para as competições regionais, e depois nacionais e depois internacionais. No ensino passa-se o mesmo ou devia passar-se.
E é por isso que os professores têm uma importância tão grande no tecido social, económico e político de um país: é a eles que compete formar os jovens que, se forem criativos, serão inovadores, críticos, e terão capacidade para resolver problemas, para encontrar soluções, para levar um pouco mais longe o conhecimento, as artes e o bem-estar que herdámos dos nossos antepassados. Uma sociedade é uma construção permanente, e ter à mão construtores criativos, críticos, inteligentes e talentosos é a maior riqueza que um país pode ter.
Infelizmente, o nosso país é sobretudo um importador de ideias feitas. O nosso sistema de ensino está murcho, cinzento, apático, morto. Os estudantes mais talentosos são expulsos do sistema e afastados das carreiras académicas, que acolhe os mais cinzentos. O resultado final é o pânico constante que se vive na nossa sociedade, pânico que em 1932 foi rapidamente resolvido por Salazar. Se não temos uma massa crítica forte, há sempre a tendência para pensar que o país vai acabar para a semana que vem porque há problemas e não estamos habituados a resolver problemas, dado que tudo o que nos ensinaram a fazer na escola foi a aplicar fórmulas alheias, mas não a resolver problemas reais.
É imperativo que tenhamos uma massa crítica constituída por pessoas que se habituaram à ideia de que os problemas se resolvem com criatividade, estudo e rigor, e sobretudo que somos nós que temos de os resolver. Não podemos continuar a pensar que para a semana o país vai acabar e que a crise vem de fora e que nada podemos fazer. Estas são as atitudes que tornaram possível a ascensão de Salazar, que por isso mesmo fechou o país ao exterior, que ele via como uma ameaça e é triste pensar que hoje em dia isto só não pode repetir-se dado o contexto da integração na Comunidade Europeia.
Talvez eu esteja a exagerar, e é evidente que esta é uma especulação que não posso demonstrar ser verdadeira nem falsa porque não sou historiador. Mas não me parece inteiramente absurdo pensar que o obscurantismo no ensino produz obscurantismo na sociedade, e que sem pessoas preparadas para pensar por si, abertas ao mundo e à discussão crítica de ideias, um país não pode enfrentar os problemas normais que todos os países enfrentam, gerando-se uma cultura dependente de um Pai que nos resgate da desgraça Pai que invariavelmente tem a figura de um ditador, que resolve de um assentada a menoridade intelectual de um país que se sente impotente para resolver problemas.
Muitos professores sentem-se inquietos pelo facto de grande parte dos problemas da filosofia estarem em aberto pelo facto de não haver respostas consensuais para eles. E assim os estudantes ficam a pensar que a filosofia é uma tolice, ao contrário da física, porque os filósofos nem sequer concordam entre eles sobre coisas tão imediatas como saber se Deus existe ou o que é o conhecimento. Esta ideia é um reflexo da menoridade intelectual a que aludi. O estudante não vê nenhuma utilidade em estudar filosofia porque está habituado a engolir fórmulas para repetir nos testes, mas não a pensar. Muitos professores procuram resolver este problema inventando fórmulas para a filosofia, que nunca funcionam porque são sempre pateticamente superficiais e tolas.
Quando os estudantes e os professores não vêem qualquer utilidade em aprender a pensar, em enfrentar problemas que não têm solução conhecida, em tentar contribuir para a sua solução, são as práticas de ensino que estão erradas. Se todas as pessoas fossem meros repetidores não existiria física, nem música, nem arquitectura. Todas estas coisas são fruto da invenção e da descoberta humanas e só um sistema de ensino completamente errado pode dar a estudantes e professores a ideia absurda de que está tudo feito, ou que é tudo misteriosamente feito algures no mundo, mas não aqui, com a nossa inteligência e as nossas ideias. Ter esta ideia é como pensar que o leite vem magicamente do supermercado. O problema disto é que quando temos um problema e a solução não está no supermercado ficamos atarantados e com a sensação de que não há solução e que o país vai acabar para a semana.
É a confiança e a autonomia, o rigor e a criatividade, que constituem o motor do desenvolvimento de um país. E esse motor constrói-se, peça a peça, no sistema educativo, tendo a filosofia um papel fundamental precisamente por ser a disciplina onde se enfrentam alguns dos problemas mais enigmáticos que os seres humanos são capazes de formular e para os quais não há soluções à vista, nem métodos seguros, mas apenas a tentativa e o erro, a discussão rigorosa, a troca de argumentos, a avaliação desassombrada de teorias e de alternativas. Mas é a vontade de persistir na procura das soluções que faz de nós seres humanos. Um sistema educativo que bloqueia esta atitude dos seus estudantes mais talentosos é um escândalo civilizacional. Infelizmente, é esse o escândalo nacional e a raiz do sentimento constante de crise.
Desidério Murcho
Leia a Carta ao Director de Katia Maria Pimentel.
Crítica | Filosofia | Leitura | Música |

Here, I might put a weekly brain teaser, for example:
Three less than 4 times a number is greater than 4 times the sum of the number and 1. Find all such numbers.
|
Secções |
António Gedeão |
















 |

António Gedeão (1906-1997), pseudónimo de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, nasceu e faleceu em Lisboa. Além de poeta, foi professor de Ciências Físico-Químicas, aliando a ciência à literatura. Obras poéticas: Movimento Perpétuo (1956), Teatro do Mundo (1958), Máquina de Fogo (1961), Poema para Galileu (1964), Linhas de Força (1967), Poesias Completas (1975), Poemas Póstumos (1983), Novos Poemas Póstumos (1990). Ficção: A Poltrona e Outras Novelas (1973). Teatro: RTX 78/24 (1963). Estudos: História da Fundação do Colégio Real dos Nobres (1959).
Outras páginas sobre o autor:
António Gedeão e Eugénio de Andrade: Viagens pela Urbe Babilónica
Voltar à página de Correntes do Século XX |


Pórtico | Nota Introdutória | Índice de Autores | Como Colaborar | Outras Ligações | Contacte-nos
© 1996-2001, Projecto Vercial.
|
 |
|
|
 |  |
 |  |
|