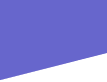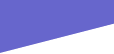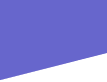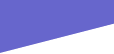|
 |
 |
|
Secções |
Eugénio de Castro |
















 |

Eugénio de Castro e Almeida (1869-1944) nasceu e faleceu em Coimbra. Foi director da revista Arte entre 1895 e 1896, onde colaboraram, entre outros, Verlaine e Mallarmé. É considerado o introdutor do Simbolismo em Portugal. Obras: Cristalizações da Morte (1884), Canções de Abril (1884), Jesus de Nazareth (1885), Per Umbram (1887), Horas Tristes (1888), Oaristos (1890), Horas (1891), Sylva (1894), Interlúnio (1894), Belkiss (1894), Tirésias (1895), Sagramor (1895), Salomé e Outros Poemas (1896), A Nereide de Harlém (1896), O Rei Galaor (1897), Saudades do Céu (1899), Constança (1900), Depois da Ceifa (1901), A Sombra do Quadrante (1906), O Anel de Polícrates (1907), A Fonte do Sátiro (1908), O Cavaleiro das Mãos Irresistíveis (1916), Camafeus Romanos (1921), tentação de São Macário (1922), Canções desta Negra Vida (1922), Cravos de Papel (1922), A mantilha de Medronhos (1923), A Caixinha das Cem Conchas (1923), Descendo a Encosta (1924), Chamas duma Candeia Velha (1925), Éclogas (1929), Últimos Versos (1938). Outras páginas sobre Eugénio de Castro:
Traduções de autores latinos
Eugénio de Castro: Oaristos
OARISTOS
PREFACIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO
(1899)
(...) Com duas ou três luminosas excepções, a Poesia portuguesa contemporânea assenta sobre algumas dezenas de coçados e esmaiados lugares-comuns.
Tais são:
olhos cor do céu, olhos comparados a estrelas, lábios de rosa, cabelos de ouro e de sol, crianças tímidas, tímidas gazelas, brancura de luar e de neve, mãos patrícias, dentes que são fios de pérolas, colos de alabastro e de cisne, pés chineses, rouxinóis medrosos, brisas esfolhando rosas, risos de cristal, cotovias soltando notas também de cristal, luas de marfim, luas de prata, searas ondulantes, melros farçolas assobiando, pombos arrulhadoras, andorinhas que vão para o exílio, madrigais dos ninhos, borboletas violando rosas, sebes orvalhados, árvores esqueléticas, etc..
No tocante a rimas, uma pobreza franciscana: lábios rimando sempre com sábios, pérolas com cérulas, sol com rouxinol, caminhos com ninhos, nuvens com Rubens (?),noite com açoite; um imperdoável abuso de rimas em ada, ado, oso, osa, ente, ante, ão, ar, etc..
No tocante a vocabulário, uma não menos franciscana pobreza: talvez dois terços das palavras que formam a língua portuguesa, jazem absconsos, desconhecidos, inertes, ao longo dos dicionários, como tarecos sem valor em lojas de arrumação.
Tais os rails por onde segue, num monótono andamento de procissão, o comboio misto que leva os Poetas portugueses da actualidade à gare da POSTERIDADE, Poetas suficientemente tímidos para temerem o vertiginoso correr do expresso da ORIGINALIDADE.
Inexperiente, o autor dos Oaristos teve um dia a cândida ingenuidade de se meter nesse moroso misto: cinco anos suportou a lentidão da viagem e a má companhia, até que uma e outra começaram a incomodá-lo de tal maneira, que resolveu mudar para o supracitado expresso, preferindo, deste modo, um descarrilamento à secante expectativa de ficar eternamente parado na concorridíssima estação da VULGARIDADE. ......................
Os Oaristos são as primícias dessa nova maneira do Poeta.
Registando:
Este livro é o primeiro que em Portugal aparece defendendo a liberdade do Ritmo contra os dogmáticos e estultos decretos dos velhos prosodistas.
As ARTES POÉTICAS ensinam a fazer o alexandrino com cesura imutável na sexta sílaba. Desprezando a regra, o Poeta exibe alexandrinos de cesura deslocada e alguns outros sem cesura. Tal fizeram, em França, Francis Vielé-Griffin e Jean Moréas.
Os alexandrinos são lançados em pare-lhas, mas os últimos quatro versos de cada Poema tem (tal se faz nos tercetos) suas rimas cruzadas. Salvo erro, é a primeira vez que assim se corta o alexandrino.
Pela primeira vez, também, aparece a adaptação do delicioso ritmo francês, rondel.
Introduz-se o desconhecido processo da aliteração: veja-se o poema XI e muitos versos derramados ao longo desta silva.
Ao contrário do que por aí se faz, ornaram-se os versos de rimas raras, rutilantes: na mais extensa composição, a composição IV, que tem cento e sessenta e dois alexandrinos, não se encontra uma única rima repetida.
O vocabulário dos Oaristos é escolhido e variado. Algumas palavras menos vulgares darão certamente lugar aos comentários cáusticos da crítica. Embora.
O Poeta empregou esses raros vocábulos:
em primeiro lugar, porque às fastidiosas perífrases prefere o termo preciso;
em segundo lugar, porque pensa, como Baudelaire, que as palavras, independentemente da ideia que representam, têm a sua beleza própria. Assim: gomil é mais belo que jarro, cerusa mais belo que alvaiade, etc.;
em terceiro lugar, pela simpatia que lhe merece esse estilo chamado decadente, que tão bem definido foi por Théophile Gautier:
«Style ingénieux, compliqué, savant, plein de nuances et de recherches, reculant toujours les bornes de la langue, empruntant à tous les vocabulaires techniques, prenant des couleurs à toutes les palettes, des notesà tous les claviers, s'efforçant à rendre la pensée dans ce qu'elle a de plus ineffable, et la forme en ses contours les plus vagues et les plus fuyants, écouiant pour les traduire les confidences subtiles de la névrose, les aveux de la passion vieillissante qui se déprave et les hallucinations bizarres del'idée fixe tournant à la folie... Ce n'estpas chose aisée, d'ailleurs, que ce style méprisé des pédánts, car il exprime des idées neuves avec des formes nouvelles et des mots qu'on n'a pas entendus encore...»
Tais são, sumariamente, as capitais inovações que este livro apresenta.
PREFACIO DA SEGUNDA EDIÇÃO
(1899)
(...) A verdade é esta: literariamente, bem pode ser que os Oaristos nada valham, mas, historicamente, ninguém se atreverá a negar-lhes um importante e duradouro lugar na literatura portuguesa do século que finda.
Há neste volume uma forte dose de exagero, que muitos atribuíram a um juvenil desejo de épater le bourgeois, mas que, rigorosamente, deve ser explicada pela necessidade de sublinhar, com um violento traço vermelho, á estagnada vulgaridade das formas poéticas de então.
O efeito da minha tentativa excedeu em amplitude e rapidez os cálculos que eu próprio tinha deitado. Quase todos os meus camaradas, novos e velhos, alguns no galarim, tomaram pelo caminho que eu desbravara. A mobilização da cesura nos alexandrinos, e a dos acentos clássicos no decassílabo, o esmero no emprego das rimas, a escolha rigorosa dos epítetos, o alargamento do vocabulário, a restauração dos moldes arcaicos, o verso livre, a aliteração: todas essas inovações, iniciadas nos Oaristos e continuadas depois nas Horas, são hoje for-mas correntes na poética nacional, que, evidentemente, saiu, por via delas, da paralisia que a entrevara. .......................
I
Triunfal, teatral, vesperalmente rubro,
Na diáfana paz dum poente de Outubro,
O sol, esfarrapando o incenso dos espaços,
Caminha para a morte em demorados passos,
Como as bandas que vão a tocar nos enterros...
E surgindo detrás de acuminantes serros,
Melancolicamente a lua de mãos belas,
Tecedeira do azul, tece num tear de estrelas,
Um lenço branco, um lenço alvíssimo e brilhante,
Para acenar com ele ao sol, seu ruivo amante...
Sobre o verde jardim caem penumbras lentas.
Em seus vasos de louça, as flores sonolentas
São berços embalando o dormir dos insectos;
A alma dum arroio, entre avencas e fetos,
Suspirosa, murmura em cascavéis de prata;
Velha Níobe, chora ao longe uma cascata;
Esplendem girassóis como fulvas custódias;
Passam no éter brando as pastorais monódias;
E à flor dum lago, onde o sol cai em flavos feixes
E onde passam legiões de escarlatinos peixes,
À flor dum lago azul, circundado de buxo,
Simbólico, real, levanta-se um repuxo,
Como uma grande flor de cristal a cantar!
Foi numa hora assim, mansa, crepuscular,
Que ao longo desta longa e folhosa alameda,
Altiva, imperial, entre um rugir de seda,
Vi pela vez primeira a Eleita de minh'alma,
A grande Flor subtil, inigualável, alma,
A Maior, a mais Bela, a mais Amada, a Única!
Vinha gloriosa e triste, envolta em negra túnica,
Que no chão se rojava em ondulantes dobras,
Tinha no calmo andar a elegância das cobras,
A leveza dum silfo e a graça duma ânfora,
E, assim como num golpe um alvo pó de cânfora,
O seu olhar fazia doer, olhar profundo.
Eu era nesse tempo um grande vagabundo,
Um precoce infeliz, viúvo de ilusões;
O sinistro fragor das mundanas paixões
Não chegava de há muito a meus ouvidos lassos;
O egoísmo, o grande rei, cingira-me em seus braços;
De ninguém tinha dó, de ninguém tinha inveja...
Contemplando de longe a sórdida peleja,
Esta infrene peleja, a que chamamos vida,
Seguia, alheio a tudo e de cabeça erguida,
Tendo um único irmão: o meu gelado orgulho.
A Dúvida, funesto, ardente sol de Julho,
Queimara, rudemente, a flor da minha crença;
Em meu peito reinava a fria indiferença;
Tinha descarrilado o vagão dos meus sonhos;
Meus dias eram maus, longuíssimos, tristonhos,
Ensopados de névoa e de melancolia...
Mas ao vê-lA surgir triunfalmente fria,
Grácil como uma flor, triste como um gemido,
Meu peito recobrou o seu vigor perdido,
Todo eu era contente e alegre como um rei!
E, cheio de surpresa, abismado, fiquei
A olhar o seu perfil e o garbo do seu colo,
Cheio de admiração, como um homem do pólo
Quando, depois de ter suportado os reveses
Duma noite cruel e fria de seis meses,
Iluminando enfim os tenebrosos trilhos,
Vê surgir, entre a neve, o sol com ruivos brilhos!
O céu fulgia como a cauda dum pavão.
Aos seus cabelos reais prendiam-se no chão,
Triste e amorosamente, as pálidas folhagens,
Enquanto os olhos meus seguiam como pajens,
O seu rítmico andar sonâmbulo e moroso...
Assim me apareceu o Lírio tenebroso,
Cujo ar desprezador me fere e vampiriza,
Criatura esfingial, triste como Artemisa,
Vingativa, feroz e linda como Fásis,
Flor cujo corpo é o aprilino oásis,
O caravansará que, por noites insanas,
Vão demandando embalde as longas caravanas,
As caravanas dos meus nómades desejos...
Assim eu vi brilhar seus olhos malfazejos,
Assim me deslumbrou a graça do seu busto!
Hoje venho cantar em verso nobre e augusto
Seus álgidos desdéns, tão frios como um túmulo,
E seu corpo que é a quinta-essência, o cúmulo
Da esbeltez, do frescor, da graça feminina.
Flor bizarra, que eu vi à hora vespertina,
Flor marcescente, que eu constantemente sigo,
Flor, que olho sem cessar, como um estilita antigo,
Olhando o flavo sol, de pé, numa coluna,
Flor de trigueiras mãos, de cabeleira bruna,
Em teu regaço ponho este livro a ti feito.
Este livro febril, que delira e que mostra
Um desvairado amor agarrado ao meu peito,
Rara pérola azul agarrada a uma ostra!
II
Em verso vou cantar o meu Diamante preto!
Do mais grácil, estranho e bizantino aspecto,
Flexível corno um junco e esbelto como um fuso,
Seu núbil corpo tem, num dualismo confuso,
A finura do lírio e o garbo das serpentes;
Soberba e esguia, com seus passos indolentes,
Quando caminha. lembra uma túlipa a andar;
Lenta e subtil, parece até que vai no ar,
Como um caule de flor, levada pela aragem;
Basta vê-lA uma vez para que a sua imagem
Leve, tão leve como os perfumes e o som,
Fique vibrando em nós, eternamente, com
A doçura sem par duma voz que se extingue...
Franzino e original, o seu corpo é um moringue
Em cujo colo estreito alguém tivesse posto
Um moreno botão de rosa-chã, seu rosto,
Grácil botão que exala uma essência secreta,
Botão onde pousou nocturna borboleta
Com asas negras, muito negras, seus bandós.
Sua desfalecida e liquescente voz,
Dorida como um ai e lassa como um canto,
Sua lânguida voz, maravilhoso encanto,
De que Ela tem o amavioso monopólio,
E um fio de veludo, um suavíssimo óleo:
Suave, a sua voz suave se derrama...
Seu hálito infantil endoidece e embalsama,
Subtil como o ananás, forte como um veneno.
Seu pescoço sem par é um cortiço moreno,
Que os meus desejos vão circundando em colmeia.
Tem música no andar, quando à tarde passeia
Do seu alto balcão nos marmóreos losangos.
A sua boca é um sorvete de morangos.
Seu magro busto oval brilha, como um santelmo,
Sob o seu penteado, esse ebânico elmo
Pesado e nocturnal, com reflexos azuis.
Seu gesto excede em graça as larvas dos paúis,
Que em curvos voos vão voando à flor dos pântanos.
Tem as unhas de opala; o seu riso quebranta-nos;
Vibrante de coral, seus cílios são de seda;
Seu capitoso olhar é um vinho que embebeda;
Seus negros olhos são duas amoras negras!
Original, detesta as convenções e as regras;
Ama o luxo, o requinte e a excentricidade,
Faz tudo o que lhe apraz, impõe sua vontade,
Diz o que sente, sem lisonja, sem disfarce.
Cousa que muito poucos têm, sabe domar-se:
Como é medrosa, a fim de ver se perde o medo,
Às quietas horas do Mistério e do Segredo,
Percorre longos, funerários corredores,
Onde pairam, chorando as suas fundas dores,
Fantasmas glaciais, errantes e protervos!
Nervosa, com o fim de subjugar seus nervos,
Corta as unhas em bico, à guisa de punhais.
Chega mesmo a morder pedaços de veludo!
Detesta o movimento, as expansões e tudo
O que possa alterar o seu viver inerte;
Não costuma sair; sonha; não se diverte;
Seus raros gestos são cheios de bizarria,
Finos, excepcionais, sem par.
Pedi-lhe um dia
Que me dissesse qual é o sonho singular,
O sonho que Ela mais quisera realizar,
Aquilo que Ela mais desejaria ter,
Ao que Ela respondeu:
«Desejaria viver
«No pólo norte, numa estufa de cristal!»
Odeia a luz: ama a penumbra vesperal...
Odeia o piano: adora o som lento do órgão...
E suas finas mãos que bem raro me outorgam
A permissão de as oscular, suas mãos finas,
As suas mãos arquiducais, longas, divinas,
Não sustiveram nunca o peso duma agulha.
Ama os perfumes e as visões; odeia a bulha;
Seu corpo estonteante e lânguido que exala
Doces e sensuais aromas de Sofala,
Do Cairo, do Japão, do Iémen e da Pérsia,
Seu corpo sensual foi feito para a inércia:
Até para falar às vezes tem preguiça!
Tal é a fria Flor taciturna, insubmissa,
Cujos olhos astrais cortam como estiletes,
Tal é a bem Amada impassível, trigueira,
Cujos olhos astrais agudos alfinetes,
Ferem meu coração dorida pregadeira!
XI
Um sonho.
Na messe, que enlourece, estremece a quermesse...
O sol, o celestial girassol, esmorece...
E as cantilenas de serenos sons amenos
Fogem fluidas, fluindo à fina flor dos fenos...
As estrelas em seus halos
Brilham com brilhos sinistros...
Cornamusas e crotalos,
Cítolas, cítaras, sistros,
Soam suaves, sonolentos,
Sonolentos e suaves,
Em suaves,
Suaves, lentos lamentos
De acentos
Graves,
Suaves.
Flor! enquanto na messe estremece a quermesse
E o sol, o celestial girassol esmorece,
Deixemos estes sons tão serenos e amenos,
Fujamos, Flor! à flor destes floridos fenos...
Soam vesperais as Vésperas...
Uns com brilhos de alabastros,
Outros louros como nêsperas,
No céu pardo ardem os astros...
Como aqui se está bem! Além freme a quermesse...
Não sentes um gemer dolente que esmorece?
São os amantes delirantes que em amenos
Beijos se beijam, Flor! à flor dos frescos fenos...
As estrelas em seus halos
Brilham com brilhos sinistros...
Cornamusas e crotalos,
Cítólas, cítaras, sistros,
Soam suaves, sonolentos,
Sonolentos e suaves,
Em suaves,
Suaves, lentos lamentos
De acentos
Graves,
Suaves...
Esmaiece na messe o rumor da quermesse...
Não ouves este ai que esmaiece e esmorece?
É um noivo a quem fugiu a Flor de olhos amenos,
E chora a sua morta, absorto, à flor dos fenos...
Soam vesperais as Vésperas...
Uns com brilhos de alabastros,
Outros louros como nêsperas,
No céu pardo ardem os astros...
Penumbra de veludo. Esmorece a quermesse...
Sob o meu braço lasso o meu Lírio esmorece...
Beijo-lhe os boreais belos lábios amenos,
Beijo que freme e foge à flor dos flóreos fenos...
As estrelas em seus halos
Brilham com brilhos sinistros...
Cornamusas e crotalos,
Cítolas, cítaras, sistros,
Soam suaves, sonolentos,
Sonolentos e suaves,
Em suaves,
Suaves, lentos lamentos
De acentos
Graves,
Suaves...
Teus lábios de cinábrio, entreabre-os! Da quermesse
O rumor amolece, esmaiece, esmorece...
Dá-me que eu beije os teus' morenos e amenos
Peitos! Rolemos, Flor! à flor dos flóreos fenos...
Soam vesperais as Vêsperas...
Uns com brilhos de alabastros,
Outros louros como nêsperas,
No céu pardo ardem os astros...
Ah! não resistas mais a meus ais! Da quermesse
O atroador clangor, o rumor esmorece...
Rolemos, b morena! em contactos amenos!
Vibram três tiros à florida flor dos fenos...
As estrelas em seus halos
Brilham com brilhos sinistros...
Cornamusas e crotalos,
Citolas, cítaras, sistros,
Soam suaves, sonolentos,
Sonolentos e suaves,
Em suaves,
Suaves, lentos lamentos
De acentos
Graves,
Suaves...
Três da manhã. Desperto incerto... E essa quermesse?
E a Flor que sonho? e o sonho? Ah! tudo isso esmorece!
No meu quarto uma luz luz com lumes amenos,
Chora o vento lá fora, à flor dos flóreos fenos...
XII
Saúde e Ouro e Luxo! A Primavera
Interminável! Viagens! Dias lentos!
Inércia e Ouro! O nome aos quatro ventos!
Noites mornas de amor! Tal a Quimera!
A Sombra! A falta de Ouro que exaspera
E da mulher os falsos juramentos!
Correr mapas! Bocejos sonolentos!
Assim a Vida corre e nos lacera!
Sonhamos sempre um sonho vago e dúbio!
Com o. Azar vivemos em conúbio,
E apesar disso, a ALMA continua
A sonhar a Ventura! Sonho vão!
Tal um menino, com a rósea mão,
Quer agarrar a levantina LUA!
SAUDADES DO CÉU
O DILÚVIO
Há muitos dias já, há já bem longas noites
que o estalar dos vulcões e o atroar das torrentes
ribombam com furor, quais rábidos açoites,
ao crebro rutilar dos coriscos ardentes.
Pradarias, vergéis, hortos. vinhedos, matos,
tudo desapar'ceu ao rude desabar
das constantes, hostis, raivosas cataratas,
que fizeram da Terra um grande e torvo mar.
À flor do torvo mar, verde como as gangrenas,
onde homens e leões bóiam agonizantes,
imprecando com fúria e angústia, erguem-se apenas,
quais monstros colossais, as montanhas gigantes.
É aí que, ululando, os homens como as feras
refugiar-se vão em trágicos cardumes,
O mar sobe, o mar cresce. e os homens e as panteras,
crianças e reptis caminham para os cumes.
Os fortes, sem haver piedade que os sujeite,
arremessam ao chão pobres velhos cansados.
e as mães largam. cruéis, os filhinhos de leite,
que os que seguem depois pisam, alucinados.
Um sinistro pavor; crescente e sufocante,
desnorteia, asfixia a turba pertinaz:
ouvem-se urros de dor, e os que vão adiante
lançam pedras brutais aos que ficam pra trás.
Raivoso, o touro estripa os míseros humanos
que o estorvam, ao correr em fuga desnorteada,
e pelo ar tenebroso as águias e os milhanos
fogem, com vivo horror, daquela estropeada.
Cresce a treva infernal nos cavos horizontes;
o oceano sobe e muge em raivas cavernosas,
e as ondas, a trepar pelos visos dos montes,
fazem de cada vez cem vítimas chorosas!
Os negros vagalhões, nos bosques mais cimeiros.
silvam e marram já, em golpes iracundos;
resplendem raios mil em rútilos chuveiros,
e os corvos, a grasnar, desolham moribundos.
Blasfémias, maldições elevam-se à porfia;
fustigado plo raio, aumenta o furacão;
cada ruga do mar acusa uma agonia,
cada bolha, ao estalar, solta uma imprecação.
Cresce n mar, sobe o mar... e traga, rudemente.
da m ais alta montanha o píncaro nevado.
e um tremendo trovão aplaude a vaga arlente,
que envolve, ao despenhar-se, o último condenado.
Cresce o mar, sobe o mar, que já topeta os céus:
e, levada plo fero e desabrido norte,
sua espuma, a ferver, molha o rosto de Deus,
que lhe encontra um sabor nauseabundo de morte...
Cresce o mar, sobe o mar... Cada vaga é uma torre!
No céu, o próprio Deus melancólico pasma...
E, pelos vagalhões acastelados, corre
a Arca de Noé, qual navio-fantasma...
Saudades do Céu
Voltar à página de Correntes do Século XX |


Pórtico | Nota Introdutória | Índice de Autores | Como Colaborar | Outras Ligações | Contacte-nos
© 1996-2001, Projecto Vercial.
|
Secções |
Alexandre ONeill |
















 |

Alexandre Manuel Vahia de Castro O'Neill de Bulhões (1924-1986) nasceu e faleceu em Lisboa. Dedicou-se à publicidade e desde cedo se juntou às primeiras manifestações do Surrealismo em Portugal. Publica em 1948, e dentro desta corrente, o volume de colagens A Ampola Miraculosa, integrado na colecção dos Cadernos Surrealistas. Afasta-se do grupo surrealista e colabora nos Cadernos de Poesia. Obras: No Reino da Dinamarca (1958), Abandono Vigiado (1960), Poemas com Endereço (1962), Feira Cabisbaixa (1965), De Ombro na Ombreira (1969), As Andorinhas não têm Restaurante (1970), Entre a Cortina e a Vidraça (1972), A Saca de Orelhas (1979), Uma Coisa em Forma de Assim (1980), As Horas já de Números Vestidas (1981). Outras páginas sobre o autor:
Morte Aparente por António Rebordão Navarro
Apontamentos biográficos
Voltar à página de Correntes do Século XX |


Pórtico | Nota Introdutória | Índice de Autores | Como Colaborar | Outras Ligações | Contacte-nos
© 1996-2001, Projecto Vercial.
|  |
|

João de Mancelos: ensaios
António Gedeão e Eugénio de Andrade: Viagens pela Urbe Babilónica
«Conheci as cidades de muitos povos
E aprendi os seus costumes»
Homero
«Dessas cidades, só ficará o vento
que por elas passou»
Bertolt Brecht
Agora que o segundo milénio fenece, assistimos a dois fenómenos sociológicos tão paradoxais quanto interligados. A um lado, as crescentes solicitações de um planeta urbano e dinâmico, susceptível de exaurir as energias do indivíduo e de sectar a sua harmonia. Noutra riba, assiste-se ao ensimesmamento, à alienação, à hipertrofia da pessoa. O choque científico e cultural que Alvin Toffler designou de «Terceira Vaga», a extinção célere de valores, as desconfortáveis lacunas afectivas expõem o ser humano à erosão do tempo-destruidor. Quando incapaz de se adaptar, o bípede remete-se à loucura o «Sapiens Demens» da pós-modernidade. Alternativamente,refugia-se no antigo, o santuário onde a tradição, a ideia de autenticidade e sabedoria se mesclam. De facto, o conhecido e o imutável procriam segurança. Significativamente, Milan Kundhera intitulou uma das suas lombadas de O Livro do Riso e do Esquecimento, alusão, por sinédoque, à insanidade e ao passado: os textos redutos da idade hodierna.
A ideia de metrópole foi o cabo extremo e último do romantismo a penetrar na estética modernista. Reciclou-se com Hart Crane ou Rimbaud, volvendo-se na «mise-en-scène» do homem novo, espaço apropriado para sugerir a devastação e a angústia, fervilhante de descompassada ruína ou criatividade enérgica.
Nas páginas da poética portuguesa, arriba sem grande pontualidade exprime-se em berço no realismo / naturalismo de Cesário Verde; atinge a adolescência com a eclosão do Modernismo, nas facetas Álvaro de Campos e Sá-Carneiro.
A partir dos anos ´60, a urbe re-emerge, com laivos existencialistas. É o espaço dessacralizado, zona de desencontros marcados, o cenário para as lucubrações de Gastão Cruz, Eugénio de Andrade ou Sophia Andresen. Esta autora, em diversos dos seus intrometidos, reza o negativismo dos grandes centros populacionais.
Um poema exemplar: em linhas como:
«Cidade, rumor e vaivém sem paz das ruas,
Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta,
Saber que existe o mar e existem praias nuas,
Montanhas sem nome e planícies mais vastas
Que o mais vasto desejo,
E eu estou em ti fechada e apenas vejo
Os muros e as paredes e não vejo
Nem o crescer do mar nem o mudar das luas.
Saber que tomas em ti a minha vida
E que arrastas pela sombra das paredes
A minha alma que fora prometida
Às ondas brancas e às florestas verdes»
(Sophia Andresen, «Cidade», Livro Sexto)
Porém, mais do que qualquer um dos escritores convocados, o fascínio da repulsa prolonga-se a um estado climático, na década de setenta, com Jorge de Sena. Apátrida de duas pátrias, a sua vivência nos Estados Unidos, numa América que é uma vastidão pontilhada de cidades, trouxe-lhe a inevitável náusea sartriana.
No poema «Paraísos Artificiais», poeta assim:
«Na minha terra, não há terra, há ruas;
mesmo as colinas são de prédios altos
com renda muito mais alta.
Na minha terra, não há árvores nem flores.
As flores, de tão escassas, dos jardins mudam ao mês
e a Câmara tem máquinas especialíssimas
|para desenraizar as árvores
O cântico das aves não há cânticos,
mas só canários de 3º andar e papagaios de 5ª.
E a música do vento é frio nos pardieiros.
Na minha terra, porém, não há pardieiros
que são todos na Pérsia ou na China,
ou em países inefáveis.
A minha terra não é inefável.
A vida na minha terra é que é inefável.
Inefável é o que não pode ser dito.»
(Jorge de Sena, «Os Paraísos Artificiais», Poesia I).
As grandes urbes americanas são os cenários ideais para o ultra-romantismo da banda-desenhada. Lembremos, a exemplo, os quadradinhos de Batman, o Homem-Morcego, na sempiterna e nocturna Gotham City; no Super-Homem, na perversa Metrópolis; ou no Homem-Aranha que combate o crime, lançando teias entre o cimento e o asfalto.
O homem moderno está cansado da cidade. Os tumultos de Los Angeles foram, entre outros, um exemplo da difícil convivência inter-comunitária e o falhanço da multicultura estadunidense. Por outro lado, e por todo o planeta, as grandes urbes estão a revelar-se locais de degradação.
Na cinematografia, Wim Wenders apresenta-nos as películas Um Anjo na Cidade e Alice nas Cidades, reflexos daquilo que Henry James apelidou de «a civilização dos hotéis». Com efeito, homem moderno é um nómada e um estranho no seu território, singrando a incomunicabilidade.
Numa análise vinda a lume em 1992, os sociólogos Charles Reeves e Sylvie Deneuve descrevem nestas linhas o actual estado das mega-metrópoles:
«No subúrbio rico onde estamos alojados, tudo funciona na perfeição: as estradas estão em óptimo estado, o lixo é recolhido todos os dias, o correio é distribuído, as crianças vão à escola, a polícia parece civilizada... Há quem cuide das árvores e apare a relva. Numa área de dez metros quadrados, trabalhadores hispânicos, equipados com máquinas altamente eficientes (Made in Japan), cortam a relva quase milimetricamente e aspiram as folhas mortas. Mas não viemos aqui (Chicago) para fazer de conta que estamos ricos. (...) Depara-se-nos outra América logo desde a estação de origem. Tudo está velho, partido, ferrugento. Nada é reconstruído de raíz, tudo é grosseiramente consertado, quer sejam os edifícios, as instalações ou os comboios. Os horários não são funcionais e, por mais de uma vez, ficámos bloqueados entre duas estações... Os transportes públicos são um bom exemplo do triste estado em que se encontram as infra-estruturas urbanas. (...) As ruas e os passeios estão cheios de buracos, os edifícios, em mau estado de conservação ou mesmo em ruínas, e as ruas têm um aspecto bastante pobre».
(Charles Reeves, Sylvie Deneuve, Viajantes à Beira de uma América em Crise).
Os gregos, inventores por excelência da «pólis», acreditavam na cidade como um lugar material onde o espírito poderia florescer. Seria o metafórico casamento entre Fausto e Helena, respectivamente a matéria e o espírito. No entanto, este fracassou, e o divórcio está à vista. Talvez até já o pressentíssemos. Recordamo-nos do mito da Torre de Babel. O livro do Génesis relata-nos, nesta metáfora avanletrista, o destino dos habitantes dos grandes centros populacionais:
«Os homens, que falavam então uma só língua, ao emigrarem no Oriente, vieram até à planície de Senaar, onde pretenderam construir uma cidade com a sua torre, servindo-se de tijolos cozidos e de betume, que faziam respectivamente as vezes de pedras e argamassas. Queriam perpetuar o próprio nome e evitar a dispersão. Mas Javé desceu até lá e, para lhes furtar a empresa, confundiu-lhes as línguas e dispersou-os pela face da Terra.»
(Génesis, 11, 1-9).
O «animal scriptionis», o escritor, revela a falha que aparta material e ideal, e toma natural afeição e partido pelas coisas do espírito, ainda que com coturnos no mundano. Temos presente um texto particularmente significativo do contista Italo Calvino. Marcovaldo, um trabalhador desenraízado da ruralidade, habita agora na cidade. Saudoso, procura na metrópole sinais que lhe permitam reconhecer no horizonte urbano um resquício de aldeia. Nota um cogumelo, mas o cogumelo é venenoso; repara num coelho, e porém, o coelho é cobaia de uma experiência médica; vislumbra uma árvore, e eis que esta é apenas um placard publicitário...
Na dissecação dos efeitos da urbe sobre o homem hodierno, dois poemas me parecem relevantes, nas letras nacionais: o texto «As Palavras Interditas», de Eugénio de Andrade, inserido no «opus» homónimo de 1951; o poema «Cidade», de António Gedeão, parte da colectânea Teatro do Mundo, datada de 1958.
Submetendo-nos à ordem cronológica de publicação, comecemos pela produção de Andrade. Neste autor, as grandes cidades exibem tantas facetas quantas imperceptíveis arestas. Nalgumas das suas páginas encontramos a dedicação quasi-incondicional à capital do norte, onde vive, e que já lhe mereceu a antologia Porto, Os Sulcos do Olhar. Também presente está Lisboa, no poema de igual título. Noutros escritos, o sujeito poético deambula por urbes estranhas desde Veneza, até, mais recentemente, Manhattan, o coração de Nova Iorque. Porém, no texto germinador deste breve ensaio, a cidade emerge como um espaço não amado, anónimo e incaracterístico, simbólico e representativo intemporal, portanto. «Ecce poema»:
AS PALAVRAS INTERDITAS
«Os navios existem, e existe o teu rosto
encostado ao rosto dos navios.
Sem nenhum destino flutuam nas cidades,
partem no vento, regressam nos rios.
Na areia branca, onde o tempo começa,
uma criança passa de costas voltadas para o mar.
Anoitece, não há dúvida, anoitece.
É preciso partir, é preciso ficar.
Os hospitais cobrem-se de cinza.
Ondas de sombra quebram nas esquinas.
Amo-te... E entram pela janela
as primeiras luzes das colinas.
As palavras que te envio são interditas
até, meu amor, pelo halo das searas;
se alguma regressasse, nem já reconhecia
o teu nome nas suas curvas claras.
Dói-me esta água, este ar que se respira,
dói-me esta solidão de pedra escura,
estas mãos nocturnas onde aperto
os meus dias quebrados na cintura.
E a noite cresce apaixonadamente.
Nas suas margens nuas, desoladas,
cada homem tem apenas para dar
um horizonte de cidades bombardeadas.»
(Eugénio de Andrade, «As Palavras Interditas», As Palavras Interditas, 1951)
O título do poema é significativo, e não isento de alguma ledice fónica: «Palavras Interditas», «Palavras Inter-Ditas» (proferidas entre duas pessoas). Porquê «interditas»? Diversas reflexões hipotéticas se colocarão ao leitor: a) por serem censuradas, proibidas por alguma instituição? b) porque o eu / emissor não as consegue exprimir, transmitir?; c) O tu / receptor / pessoa amada não recebe a mensagem, ou não a aceita, ou não responde?; d) a mensagem é factualmente emitida, porém, o receptor interpreta-a de forma distorcida?
A impossibilidade de comunicação é, em qualquer caso, o tema do texto. O cenário citadino, infere-se, será o de uma Babilónia de tão diferentes discursos e díspares sensibilidades que a troca entre os habitantes não sucede. Tal assunto será retomado, dois livros depois, na obra Coração do Dia, na primeira estrofe do poema «Um Rio Te Espera».
Uma leitura próxima de «As Palavras Interditas» exclui umas e concretiza outras das pistas enunciadas. Elabora-se, no texto, um esquema comunicativo. Existe um emissor («as palavras que te envio»), uma mensagem, que poderá ser a da terceira estrofe («Amo-te»), um receptor ou ente amado («meu amor»).
A interdição das palavras é resultante, como nota o emissor, da negação da comunicabilidade: «se alguma |palavra| regressasse, nem já reconhecia / o teu nome nas suas curvas claras». A trincheira é, portanto, da responsabilidade do «tu», do outro. Porquê? Três hipóteses: a) o receptor recusa a prova de afecto. Neste caso, o conflito entre o poeta e a pessoa amada poderá ser indício, microcosmos, da situação de guerra que é evocada no poema; b) o receptor não chega a receber a mensagem, talvez por estar ausente na guerra, ou dela ter sido vítima; c) a guerra transtornou tanto o receptor que, sendo já uma pessoa diferente é indiferente, passo o trocadilho, à mensagem do eu poético.
O discurso do conflito é reflectido em vários momentos do poema. Enfatiza-se a anti-naturalidade da guerra: a «cinza» dos bombardeamentos humanos opõe-se à «areia branca» natural. Também na segunda quadra se diz: «uma criança passa de costas voltadas para o mar» uma imagem a mostrar que a guerra é um facto político-social, postura de contradição com a fusão homem / natureza. Aliás, os elementos naturais pré-socráticos estão representados no texto: água («rios», «mar», «água»), ar («vento», «ar»), terra («areia», «colinas», «pedra escura», «margens»). Só o fogo é humano, resultado da máquina bélica («luzes das colinas» labaredas das cidades flageladas). Mais explícitas são as referências aos soldados deslocadas para a batalha («é preciso partir») ou à angústia dos que permanecem ou caem mortos em terra estranha («é preciso ficar»), dos que regressam feridos («hospitais»), dos bombardeamentos («cobrem-se de cinza»), a devastação («dias quebrados» ou «margens nuas»).
Ainda neste âmbito, é relevante reparar no cenário do poema. Tons escuros cobrem o texto: «cinza», «pedra escura», «noite». O dia cai, ao longo dos versos: «anoitece», «ondas de sombra», «primeiras luzes das colinas», «mãos nocturnas», «a noite escura». Tudo a culminar na ágorafobia final, versos belíssimos.
Porém, repare-se na ambivalência poética eugeniana. A liberdade de opção do ser humano a recordar a Manuel Alegre «Com estas mãos se faz a paz e se faz a guerra» a árdua escolha ou não escolha dos existencialistas. A guerra morta («Thanatos») ou a paixão («Eros») estão presentes em «As Palavras Interditas». Com efeito, a «pedra escura» tanto pode ser uma lápide tumular, como o genesíaco menir, símbolo megalítico de fertilidade. Ainda nesta linha, o «halo das searas» tanto representará o clarão das explosões do bombardeamento, como se poderá relaccionar com crenças pagãs que ligam o trigo à fecundidade. O trigo ou o cabelo loiro eram tidos como resultantes da intervenção de de uma cabeça sagrada do deus Sol (Apolo, Adonis, Orfeu, Tammuz), da deusa lua (Ceres) ou da deusa terra (Cardea, Mai, Maya, Mari ou Maria). Por fim, acresce dizer que a própria noite tem, na tradição poética, ínfimo campo de relaccionamento: morte, amor: «a noite cresce, apaixonadamente». E é nas suas margens que nos encontramos. Numa riba, o emissor, o eu; noutra, o receptor, o outro, o inferno sartriano. Num lado, o bem; noutro, o mal. Entre ambos, o abismo da escolha, a separação, as pontes queimadas, a indecisão do poeta estadunidense Auden, ao terminar o seu poema «ou nos amamos ou morremos» ou será «amamo-nos e morremos» ?
Também encarará assim a cidade, o poeta Gedeão? Numa entrevista a Mega Ferreira (JL, ano II, nº 28, p. 6), Rómulo de Carvalho confessa «O homem é mau, por natureza». Uma atitude anti-rousseauniana, rente às crenças do escritor nobilado William Golding.
E no entanto, a humanidade espreita à esquina dos seus versos. A propósito dos escritos de Gedeão, o compositor José Niza dilucida: «Havia um homem, havia uma história, havia um palco» (JL, ano II, nº 28, p. 7). O ser é, para este poeta, um «animal aflito». Mas, que torniquete o oprime ? Quem lhe insufla o sopro do dia seguinte ?
Ao escritor custou meio século a vencer a timidez e a oferecer à luz os seus poemas. Caso raro, para quem, aos dez anos, já poetav. Porém, comum a todo aquele que se furta ao «gliteratti». Lembremos Torga ou Régio, a exemplo. Uma estreia tardia alvitrar-se-á mas seguramente ganhante em maturidade e consistência. Os dados de um escritor jogam-se no terreiro da época histórico-literária e na vivência ontogénica. Gedeão atravessou o existencialismo «da capo al fine». Desvendar o seu conceito do que é o bípede inteligente é desentranhá-lo do húmus dos seus poemas e enxertá-lo na época em que foram produzidos. Esperar-se-ia, assim, que Gedeão nos recortasse do papel personagens atormentadas pelo existencialismo, crentes em que «o ser é uma liberdade sem sentido», e dizendo «o homem é o lobo do homem», ou, na versão do poeta germânico Reiner Kunze «um é o cotovelo do outro». Uma urbe animalesca, enfim. E porém, no poema para que vos convoco, intitulado «Esta é a cidade», a perspectiva é, até certo grau, positiva.
Ouçamo-lo:
«Esta é a Cidade, e é bela.
Pela ocular da janela
foco o sémen da rua.
Um formigueiro se agita,
se esgueira, freme, crepita,
ziguezagueia e flutua.
Freme como a sede bebe
numa avidez de garganta,
como um cavalo se espanta
ou como um ventre concebe.
Treme e freme, freme e treme,
friorento vôo de libélula
sobre o charco imundo e estreme.
Barco de incógnito leme
cada homem, cada célula.
É como um tecido orgânico
que não seca nem coagula,
que a si mesmo se estimula
e vai, num medido pânico.
Aperfeiçoo a focagem.
Olho imagem por imagem
numa comoção crescente.
Enchem-se-me os olhos de água.
Tanto sonho! Tanta mágoa!
Tanta coisa! Tanta gente!
São automóveis, lambretas,
motos, vespas, bicicletas,
carros, carrinhos, carretas,
e gente, sempre mais gente,
gente, gente, gente, gente,
num tumulto permanente
que não cansa nem descansa,
um rio que no mar se lança
em caudolosa corrente.
Tanto sonho! Tanta esperança!
Tanta mágoa! Tanta gente!
Uma ciece peregrina,
pedúnculo de vorticela,
perpassa sob a janela,
incandesce-me a retina.
Anda como sobre escolhos,
irradiando fragância.
Envolvo-a toda nos olhos;
possuo-a mesmo à distância.
A multidão chama por mim.
Chama e reclama
Que eu nela sou princípio e fim.
Lá vou, lá vou.
Galgo os lanços da escada de roldão
e fluo, coloidalmente disperso,
corpúsculo e onda, sem anverso nem reverso,
fagocitado pela multidão.
(António Gedeão, «Esta é a Cidade», Poesias Completas)
Gedeão compartilha connosco um enérgico cenário urbano. O óculo da janela por onde assistimos à passagem inexorável das multidões e do trânsito é a lente do microscópio. A rua, feita lamela, está fervilhante de uma actividade denunciada pelas frequentes repetições («gente, sempre mais gente, / gente, gente, gente») e o uso de curtas e possantes frases exclamativas («Tanto sonho! Tanta mágoa! / Tanta coisa! Tanta gente!»).
O poeta percebe a metrópole como um tecido vivo, no qual cada cidadão é uma ínfima célula. Uma perspectiva orgânica e organicista do social.
Porém, ao focar a lente e a atenção, o bardo vislumbra um detalhe apelativo: a circe, transmutada em vorticela, protozoário. Faz as vezes da mulher, que se destaca da multitude ou se impõe à natureza: um pouco como o deus verde, no poema de Eugénio de Andrade, ou a Leonor do soneto camoniano. De imediato, o sujeito poético abandona o posto de observação, no microscópio, e não resiste a entrar em cena, ele agora célula também, para ir ao encontro mortal e genesíaco do ser amado.
O uso de tropos importados da ciência pode conduzir-nos ao efeito de estranhamento ele, afinal, uma das pedras de toque da «ars poetica». Afirmava o criador modernista estadunidense Hart Crane que «a poesia é uma arte arquitectural, baseada não na evolução ou na ideia de progresso, mas na articulação da consciência humana contemporânea, sub species aeternitatis, incluindo todos os reajustamentos da ciência». Ou seja, é legítimo o uso de termos técnicos, desde que estes sejam aclimatizados à tessitura temática e funcional do texto.
Outra das características que fazem a imagem de marca da produção poética gediana, muito notada por Jorge de Sena, é a musicalidade. O entrelaçar da literatura na música é uma promiscuidade antiquíssima. Os gregos tinham as odes, ou canções breves. Os goliardos deixaram-nos grqande produção de temas espirituais ou licenciosos. Os trovadores traziam as baladas de amor ou pungentes de sarcasmo nas cordas do citolão, cavaquinho, flautas, tamborins, etc. Já James Joyce, uma figura incontornável da irlandesa de expressão anglo-saxónica, defendia: «ninguém senão o poeta é capaz de absorver em si a vida que o cerca e de a catapultar, renovada, por entre música planetária».
À míngua de violinos a enternecerem e eternizarem o instante eufórico do reencontro entre as células, Rómulo de Carvalho traz-nos a harmonia musical das próprias sílabas e palavras uma característica que a sua imagem de marca. A prová-lo, as diversas canções a que os seus textos deram aso, nas vozes de Manuel Freire e José Niza. Este último afirma:
«Sempre me aconteceu, ao ler poesia, ouvir uma música que não sabia donde vinha. (...) Mesmo que essa música seja só o íntimo silêncio que «ouço», ao ler um poema. Mesmo que, como no «jazz», a poesia dita, recitada, faça apenas nascer o jogo dos contrastes, das acentuações, dos climas, cortina difusa onde as palavras se apoiam e circulam na música. Mas principalmente, quando taco-a-taco, poesia e música se fundem em canção, não se sabendo onde acaba uma e começa a outra. (...) De tudo isso fiz com poetas como Camões, Brecht, Bocage, Almeida Garrett, Manuel Alegre, Rosalía de Castro, Paul Éluard, Aleixo, Lorca, Castelao, Miguel Torga, Jacques Prèvert, Vinicius de Moraes, com outros, em canções, em muitos casos ainda inéditas.Mas foi com António Gedeão (e também com Manuel Alegre) que as coisas foram sempre fáceis. A explicação é simples: é que a sua poesia já contém em si as principais estruturas da construção musical, basta encontrar a chave, o fio condutor, e tudo é quase um automatismo. Um automatismo tão imediato, tão directo, que me aconteceu musicar um poema de António Gedeão durante os poucos minutos da sua leitura».
E, na verdade, um leitor atento, repara também no potencial fónico de «Esta é a Cidade». A escolha de termos com sonoridade apelativa («ziguezaguear»), os jogos de palavras («treme e freme, freme e treme», «sem anverso nem reverso»), e, naturalmente, a própria rima.
Há alguns meses atrás, estive, juntamente com mais oitenta poetas de três dezenas de países, no IIº Internacional de Poetas, promovido pela universidade de Coimbra. Vi, por assim dizer, como paravam as modas em termos de produção literária. Fiquei deliciadamente surpreendido com as tendências da poesia de expressão anglo-saxónica. Com efeito, poetas americanos e canadianos, ingleses e irlandeses apostavam fundamentalmente na sonoridade da poesia. A mensagem era propositadamente relegada para unm plano inferior, em proveito de uma incrível acuidade fónica. Dir-se-ia que as palavras eram vistas quase como símbolos fonéticos e a sua musicalidade explorada de uma forma muito criativa. Desde termos que decompostos formavam outros, ao uso de rima; da cacafonia à aliteração; dissonâncias propositadas e assonâncias; hiatos e contrações, e um sem número de efeitos que nos deixaram, a nós, os lusófonos, boquiabertos. Alguns dos nossos colegas estrangeiros usaram máquinas de ritmo, efeitos de eco, chegando três deles a ler poemas diferentes em simultâneo, mas num compasso idêntico. Conversei longamente com o poeta Al Berto sobre isto. Ele foi perentório: «Tenho dúvidas. Será isto poesia?». Mais tarde, discutindo o caso com o autor canadiano Roy Miki, diante do livro de poemas Random Access File, que me ofertou, aventurei esta hipótese: «Talvez que a poesia europeia não saxónica seja fundamentalmente escrita; enquanto a de expressão inglesa tem por fim ser dita». Miki concordou e propôs: «a literatura brasileira, talvez até pela sua entoação, poderá vir a ser uma ponte entre ambas, combinando a riqueza polissémica com as potencialidades do som».
Curiosamente, e nesse mesmo dia, a Professora Adriane Bebiano propôs-nos a audição de poesia dita pelo autor Tao Lee, em chinês. «Obviamente, não comprendereis a mensagem» adendou. «Mas eu acredito que a poesia é fundamentalmente som». E foi assim que Tao Lee leu e recebeu uma espontânea ovação por um texto incompreensível, mas singularmente melodioso e variado.
Haverá uma telapatia inerente à declamação?
No mês passado, o número 41 da revista AGNI, publicada pela universidade de Boston, Estados Unidos, trouxe uma entrevista que fiz ao escritor e amigo Michael Franco. Em dado momento, indaguei: «É a poesia som?» Respondeu-me: «Não acredito em nenhum poeta que não seja músico».
Há, na literatura, em termos de qualidade reconhecida, dois grupos fundamentais de autores. Primeiramente, aquele que Julius Peterson designou de «grupo directivo» o conjunto de escritores que a comunidade literária assume como sendo fiáveis, canónicos. Por outro lado, e num estrato inferior, emerge o «grupo oprimido» que, ocasionalmente, a história das letras recupera. Se Rómulo de Carvalho passou do desconforto e da iuncipiência do segundo para a galeria exclusiva do primeiro, terá sido por três ordens de motivos: um: a criatividade no uso de termos pertencentes ao vasto campo da tecnologia; dois: a abordagem ideologicamente diferente de uma série de temáticas (vimos como Gedeão se demarcou das vozes dos autores contemporâneos ao desvendar na cidade valores eufóricos); três e por último: a exploração das capacidades sonoras da sua criação.
«Esta é a Cidade», contrariamente a «As Palavras Interditas», não é um poema que salta uma fasquia muito alta. Mas graças ao soberbo uso da vertente sonora, funciona na sua plenitude.
Orfeu toca-nos. E o ícaro Gedeão sai da sua cidade labiríntica, voando ao som das sílabas, sem queda, até à invenção e fantasia do leitor desprevenido.
João de Mancelos
Voltar à página inicial dos Ensaios | | |
|
Pesquisa
Para pesquisar uma expressão com mais de uma palavra, deverá escrevê-la entre aspas, como por exemplo: "Os Maias" ou "Fernando Pessoa".
|
Editoras
Livrarias
Bibliotecas
Ficha Técnica
|

|

© 1997-2001, Letras & Letras.
Com o apoio do Projecto Geira da Universidade do Minho e do Instituto Pedro Nunes
Read Act II of "Othello" and answer the study questions on page 76 of your text.
|
|  |
|
 |
 |
|
Secções |
Camilo Pessanha |
















 |

Camilo Pessanha (1867-1926) nasceu em Coimbra, tendo tirado o curso de Direito nessa cidade. Partiu para Macau e aí exerceu funções judiciais. O contacto com a cultura chinesa levou-o a escrever vários estudos e a fazer traduções de vários poetas chineses. Foram, todavia, os seus poemas simbolistas que largamente influenciaram a geração de Orpheu, desde Mário de Sá-Carneiro até Fernando Pessoa. Os seus poemas foram reunidos na colectânea Clepsidra, publicada em 1922, tendo sido Fernando Pessoa o principal mentor da edição. Camilo Pessanha morreu em Macau vítima do ópio.
Outras páginas sobre Camilo Pessanha:
Versão integral da obra Clepsidra
Uma leitura da poesia "Estátua" de Camilo Pessanha
Vários estudos teóricos sobre Clepsidra
CLEPSIDRA (extracto)
VÉNUS
À flor da vaga, o seu cabelo verde,
Que o torvelinho enreda e desenreda...
O cheiro a carne que nos embebeda!
Em que desvios a razão se perde!
Pútrido o ventre, azul e aglutinoso,
Que a onda, crassa, num balanço alaga,
E reflui (um olfacto que embriaga)
Que em um sorvo, murmura de gozo.
O seu esboço, na marinha turva...
De pé flutua, levemente curva;
Ficam-lhe os pés atrás, como voando...
E as ondas lutam, como feras mugem,
A lia em que se desfazem disputando,
E arrastando-a na areia, co'a salsugem.
Passou o Outono já, já torna o frio...
Outono de seu riso magoado.
Álgido Inverno! Oblíquo o sol, gelado...
O sol, e as águas límpidas do rio.
Águas claras do rio! Aguas do rio,
Fugindo sob o meu olhar cansado,
Para onde me levais meu vão cuidado?
Aonde vais, meu coração vazio?
Ficai, cabelos dela, flutuando,
E, debaixo das águas fugidias,
Os seus olhos abertos e cismando...
Onde ides a correr, melancolias?
E, refractadas, longamente ondeando,
As suas mãos translúcidas e frias...
Floriram por engano as rosas bravas
No Inverno: veio o vento desfolhá-las...
Em que cismas, meu bem? Porque me calas
As vozes com que há pouco me enganavas?
Castelos doidos! Tão cedo caístes!...
Onde vamos, alheio o pensamento,
De mãos dadas? Teus olhos, que um momento
Perscrutaram nos meus, como vão tristes!
E sobre nós cai nupcial a neve,
Surda, em triunfo, pétalas, de leve
Juncando o chão, na acrópole de gelos...
Em redor do teu vulto é como um véu!
Quem as esparze quanta flor! do céu,
Sobre nós dois, sobre os nossos cabelos?
CASTELO DE ÓBIDOS
Quando se erguerão as seteiras,
Outra vez, do castelo em ruína,
E haverá gritos e bandeiras
Na fria aragem matutina?
Se ouvirá tocar a rebate
Sobre a planície abandonada?
E sairemos ao combate
De cota e elmo e a longa espada?
Quando iremos, tristes e sérios,
Nas prolixas e vãs contendas.
Soltando juras, impropérios,
Pelas divisas e legendas?
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
E voltaremos, os antigos
E puríssimos lidadores,
(Quantos trabalhos e perigos!)
Quase mortos e vencedores?
E quando, ó Doce Infanta Real,
Nos sorrirás do belveder?
Magra figura de vitral,
Por quem nós fomos combater...
O meu coração desce,
Um balão apagado...
Melhor fora que ardesse,
Nas trevas, incendiado.
Na bruma fastidienta,
Como um caixão à cova...
Porque antes não rebenta
De dor violenta e nova?!
Que apego ainda o sustém?
Átomo miserando...
Se o esmagasse o trem
Dum comboio arquejando!...
O inane, vil despojo
Da alma egoísta e fraca!
Trouxesse-o o mar de rojo,
Levasse-o na ressaca.
VIOLONCELO
Chorai arcadas
Do violoncelo!
Convulsionadas,
Pontes aladas
De pesadelo...
De que esvoaçam,
Brancos, os arcos...
Por baixo passam,
Se despedaçam,
No rio, os barcos.
Fundas, soluçam
Caudais de choro...
Que ruínas (ouçam)!
Se se debruçam,
Que sorvedouro!...
Trémulos astros...
Soidões lacustres...
Lemos e mastros...
E os alabastros
Dos balaústres!
Urnas quebradas!
Blocos de gelo...
Chorai arcadas,
Despedaçadas,
Do violoncelo.
AO LONGE OS BARCOS DE FLORES
Só, incessante, um som de flauta chora,
Viúva, grácil, na escuridão tranquila,
Perdida voz que de entre as mais se exila,
Festões de som dissimulando a hora.
Na orgia, ao longe, que em clarões cintila
E os lábios, branca, do carmim desflora...
Só, incessante, um som de flauta chora,
Viúva, grácil, na escuridão tranquila.
E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,
Cauta, detém. Só modulada trila
A flauta flébil... Quem há-de remi-la?
Quem sabe a dor que sem razão deplora?
Só, incessante, um som de flauta chora...
FONÓGRAFO
Vai declamando um cómico defunto.
Uma plateia ri, perdidamente,
Do bom jarreta... E há um odor no ambiente
A cripta e a pó do anacrónico assunto.
Mudo o registo, eis uma barcarola:
Lírios, lírios, águas do rio, a lua...
Ante o Seu corpo o sonho meu flutua
Sobre um paul extática corola.
Muda outra vez: gorjeios, estribilhos
Dum clarim de oiro o cheiro de junquilhos,
Vívido e agro! tocando a alvorada...
Cessou. E, amorosa, a alma das cornetas
Quebrou-se agora orvalhada e velada.
Primavera. Manhã. Que eflúvio de violetas.
VÉNUS
À flor da vaga, o seu cabelo verde,
Que o torvelinho enreda e desenreda...
O cheiro a carne que nos embebeda!
Em que desvios a razão se perde!
Pútrido o ventre, azul e aglutinoso,
Que a onda, crassa, num balanço alaga,
E reflui (um olfacto que embriaga)
Que em um sorvo, murmura de gozo.
O seu esboço, na marinha turva...
De pé flutua, levemente curva;
Ficam-lhe os pés atrás, como voando...
E as ondas lutam, como feras mugem,
A lia em que se desfazem disputando,
E arrastando-a na areia, co'a salsugem.
Clepsidra, Lisboa, Casa Editora Lusitânia, 1922
Para o texto integral, clique aqui
Voltar à página de Correntes do Século XX |


Pórtico | Nota Introdutória | Índice de Autores | Como Colaborar | Outras Ligações | Contacte-nos
© 1996-2001, Projecto Vercial.
 |
 |
|
Secções |
Luís de Sttau Monteiro |
















 |
Luís Infante de Lacerda Sttau Monteiro nasceu no dia 03/04/1926 em Lisboa e faleceu no dia 23/07/1993 na mesma cidade. Partiu para Londres com dez anos de idade, acompanhando o pai que exercia as funções de embaixador de Portugal. Regressa a Portugal em 1943, no momento em que o pai é demitido do cargo por Salazar. Licenciou-se em Direito em Lisboa, exercendo a advocacia por pouco tempo. Parte novamente para Londres, tornando-se condutor de Fórmula 2. Regressa a Portugal e colabora em várias publicações, destacando-se a revista Almanaque e o suplemento "A Mosca" do Diário de Lisboa, e cria a secção Guidinha no mesmo jornal. Em 1961, publicou a peça de teatro Felizmente Há Luar, distinguida com o Grande Prémio de Teatro, tendo sido proibida pela censura a sua representação. Só viria a ser representada em 1978 no Teatro Nacional. Foram vendidos 160 mil exemplares da peça, resultando num êxito estrondoso. Foi preso em 1967 pela Pide após a publicação das peças de teatro A Guerra Santa e A Estátua, sátiras que criticavam a ditadura e a guerra colonial. Em 1971, com Artur Ramos, adaptou ao teatro o romance de Eça de Queirós A Relíquia, representada no Teatro Maria Matos. Escreveu o romance inédito Agarra o Verão, Guida, Agarra o Verão, adaptada como novela televisiva em 1982 com o título Chuva na Areia.
Obras Ficção: Um Homem não Chora (romance, 1960), Angústia para o Jantar (romance, 1961), E se for Rapariga Chama-se Custódia (novela, 1966). Teatro: Felizmente Há Luar (1961), Todos os Anos, pela Primavera (1963), Auto da Barca do Motor fora da Borda (1966), A Guerra Santa (1967), A Estátua (1967), As Mãos de Abraão Zacut (1968).
Voltar à página das Correntes do Século XX |


Pórtico | Nota Introdutória | Índice de Autores | Como Colaborar | Outras Ligações | Contacte-nos
© 1996-2001, Projecto Vercial.
|
 |
|
|